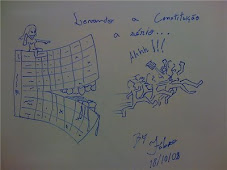Aplicar o direito não é uma atividade mecânica, as soluções não vêm pré-prontas. Assim, diante de casos polêmicos, em que muitas vezes o Legislativo demora a deliberar, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso defende que o Judiciário “empurre a história”, ou seja, que a impulsione e dê respostas à sociedade. A necessidade dessa iniciativa foi citada pelo ministro em seu discurso de abertura do XI Simpósio de Direito Constitucional, realizado pela Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst) no início deste mês, em Curitiba. Durante sua exposição, o ministro lembrou também que, por outro lado, a história tem seu próprio ritmo e que esse tipo de estímulo tem de ser usado com muita parcimônia para não se correr o risco de cair no autoritarismo. Quando era advogado, a efetivação dos direitos fundamentais previstos no texto constitucional era uma bandeira que Barroso defendia. Nessa época, ele atuou em prol de questões consideradas polêmicas, como a união homoafetiva, o aborto de fetos anencéfalos e a não-extradição do italiano Cesare Battisti. Agora que se tornou o mais recente ministro da corte, ele pretende atuar para garantir a efetividade da Constituição. Em entrevista exclusiva ao caderno Justiça & Direito, Barroso refletiu sobre sua atuação na corte constitucional e sobre o papel do Judiciário na resolução dos casos difíceis.
Depois de anos advogando perante o Supremo Tribunal Federal, como é a sensação de estar do outro lado do plenário?
A grande diferença é que um advogado, sobretudo um advogado mais sênior como eu era, escolhe a sua agenda. Um ministro do Supremo tem que lidar com todos os processos que acontecem. A segunda diferença é que o juiz tem um pouco mais de poder de interferência sobre a realidade que um advogado. A terceira é que o volume de trabalho e certa disfuncionalidade do Supremo me causam muita angústia. O maior problema do Supremo é uma ausência de filtros adequados para selecionar o que é verdadeiramente importante para a justiça brasileira do que é mais do mesmo e não deveria estar no Supremo. Portanto acho que nós temos de investir a melhor energia em evitar que os ministros tenham de gastar tanto tempo com coisas irrelevantes.
Na ação do mensalão mineiro, o senhor propôs que o Supremo estabelecesse regras quanto ao tema, o que não foi acatado pelo plenário. Como o senhor encara esse comportamento?
Essa questão diz respeito ao papel institucional do Supremo. Eu não tenho simpatia pelo foro por prerrogativa de função porque acho que este não é o papel de uma Suprema Corte. Acho que o Supremo não está aparelhado para conduzir isso da melhor forma e tenho defendido a criação de uma vara especializada em Brasília para desempenhar esse papel. Mas a tese que eu defendi foi que um tribunal de jurisprudência como o Supremo não deve decidir as questões ad hoc, deve ter critérios gerais que valham para todos os casos. Portanto eu propus um critério geral que nesse caso não passou. Mas, no caso do desmembramento, eu propus e passou, e agora a regra geral é: chegou o processo ao Supremo, imediatamente se desmembra para que só tramite pelo Supremo a ação em face de quem tem foro por prerrogativa.
A atividade de um juiz pode ser entendida como discricionária?
Juízes não produzem decisões livres. Toda decisão de um juiz tem de ser reconduzida a uma norma jurídica, esteja ela na Constituição ou esteja na lei. Portanto, nesse sentido, ela é sempre uma decisão jurídica. Porém, sobretudo nos casos difíceis, eu acho que o ponto de observação do juiz e sua concepção de mundo fazem diferença. Por isso mesmo que em tribunais como o Supremo e em todos os tribunais do mundo existem votos vencidos, votos divergentes. O direito não é matemático, e a aplicação do direito não é puramente mecânica, portanto diferentes maneiras de compreender a vida e o mundo influenciam o resultado final de um julgamento.
Como vê as declarações do ex-presidente Lula, que afirmou que o julgamento do mensalão foi 80% político e 20% jurídico?
Não gostaria de comentar.
O senhor foi o primeiro neoconstitucionalista a chegar ao STF. Como isso alterará a maneira como o tribunal julga as causas?
Eu acho que o termo neoconstitucionalista é apenas um rótulo. O neoconstitucionalismo descreve um modo como se pensa e pratica o direito, eu apenas arrumei essas ideias, não as inventei. Elas estão na vida. Mas eu fui talvez um dos primeiros autores que defendeu a efetividade da Constituição ao chegar ao Supremo, fui um dos primeiros autores que defendeu a nova interpretação constitucional. Eu sou um militante antigo do direito constitucional. Portanto eu falo e escrevo sobre as coisas há muito tempo e tenho procurado ser coerente no Supremo com as coisas que eu acho. Agora, eu sempre defendi o papel atuante do Judiciário na proteção dos direitos fundamentais, sobretudo e inclusive das minorias. Eu defendi a união homoafetiva, eu defendi ações afirmativas, eu defendo o direito das mulheres de interromper a gestação. Isso faz parte da minha filosofia de vida.
O senhor citou a necessidade de empurrar a história e que é preciso parcimônia no papel do juiz. Como controlar esses atos para evitar autoritarismo?
Essa é uma questão que atravessou os milênios, que é quem controla os controladores, quem vigia os guardiões. Em uma democracia existem equilíbrios institucionais e, portanto, quando o Executivo tem uma forte carga de legitimidade, as suas decisões tendem a prevalecer. Quando o Legislativo tem uma forte carga de legitimidade, o Judiciário não costuma se comportar de uma maneira ostensiva. Há uma dinâmica na vida das instituições em que alguns momentos prevalece mais o Executivo, em outros momentos prevalece o Legislativo, e, em outros, um pouco mais o Judiciário. Isso não é sinal nem de crise nem de disfunção. É uma dinâmica natural da vida democrática. Agora, eu pessoalmente considero que uma democracia política é gênero de primeira necessidade e considero que o maior compromisso do país consigo mesmo é fazer uma reforma política que recoloque o Poder Legislativo no centro das decisões políticas do país.
O senhor considera que, atualmente, o Judiciário está prevalecendo?
Eu acho que em algumas matérias o Judiciário tem, não propriamente prevalecido, mas tido mais visibilidade, o que é uma distorção completa. Mas, por exemplo, na questão de pesquisa com células-tronco embrionárias, o Congresso aprovou uma boa lei, mas ela foi aprovada e a sociedade brasileira não participou e nem se deu conta desse debate. Quando o procurador-geral da República propõe uma ação direta e questiona a matéria no Supremo, aí há um debate nacional. Ou seja, tem alguma coisa errada num sistema em que o debate parlamentar tem menos visibilidade que o debate judicial.
Como o senhor encara as críticas ao ativismo judicial?
Ativismo é, de novo, um rótulo. Então, era preciso conceituar o que se está colocando dentro desse rótulo. Se ativismo significar criação livre do direito pelo juiz, eu sou contra, é péssimo. Mas, se ativismo significar que, naquelas situações em que o Congresso não tenha atuado e que exista um direito fundamental em jogo, o Judiciário deve atender à demanda social existente, aí eu acho que ele pode ser bom. O ativismo em si, com parcimônia, pode ser bom ou pode ser ruim. Portanto é difícil falar em tese. O que eu posso dizer é que o ativismo, mesmo o bom, deve ser um antibiótico, ou seja, usado esporádica e pontualmente para combater um problema. Ele não pode ser a regra numa sociedade democrática.
by Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal
Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/justica-direito/entrevistas/conteudo.phtml?tl=1&id=1467167&tit=O-maior-problema-do-STF-e-a-falta-de-filtros-para-selecionar-o-que-e-importante-para-a-justica. Acesso em: 09 mai. 2014.