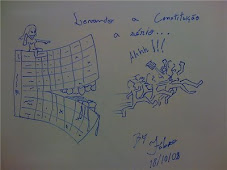No exercício da atividade jurídica e especialmente ao se tratar de tributos, o uso de abreviaturas é muito comum quando escrevemos. Ninguém ignora o que seja CTN (Código Tributário Nacional), IPI, ICMS, ISS, etc. Mas parece ser uma maldade identificarmos o Regulamento do Imposto de Renda como RIR. Afinal, não há graça alguma na maior parte dos seus mais de mil artigos.
O Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, embora seja o regulamento em vigor que trata desse imposto, é solenemente desprezado até mesmo pelo poder executivo que o fez surgir. Tanto assim que ele não é consolidado e atualizado há mais de 14 anos, embora muitas de suas regras tenham sido alteradas. Com isso, qualquer pessoa que resolva consultá-lo pode ser levado a erro, ainda que a pesquisa seja feita no portal de legislação da Presidência da República, o planalto.gov.br, suposto repositório atualizado das leis em vigor no país.
Exemplos dessa inconsistência ou não atualização são os artigos 86 e 117 do RIR. O primeiro trata das alíquotas do imposto, que variavam de 15% a 25% e atualmente iniciam em 7,5% e vão até 27,5%. Já os artigos 117 e seguintes cuidam dos ganhos de capital, sem considerar as mudanças introduzidas por legislação posterior.
Por incrível que pareça, no site oficial da presidência, o planalto.gov.br , em meio a mais de mil artigos, só existe um único em que se registra alteração, que é o artigo 33, parágrafo 1º, que cuida do CPF, ali constando alteração feita pelo decreto 4.166, de 13 de fevereiro de 2002.
Ora, qualquer regulamento deve ser sempre atualizado, sob pena de causar ao contribuinte dificuldades na sua aplicação. Qualquer pessoa, ainda que se dedique profissionalmente à aplicação das leis (caso de advogados e contadores, por exemplo) acaba sendo prejudicada em seu trabalho, eis que se perde um tempo enorme na consulta das matérias que deveriam estar sempre à disposição com clareza e presteza, mormente consideradas as facilidades trazidas pela informática.
O poder executivo, graças ao uso abusivo de Medidas Provisórias ou da indecente pressão que exerce sobre um Congresso cada vez mais omisso e acovardado, acaba impondo qualquer coisa que pretenda, por mais confusa que pareça, sem que haja um mínimo debate sobre a conveniência das mudanças impostas.
Para que tenhamos uma singela ideia do emaranhado em que fomos metidos, do verdadeiro cipoal em que nos enredamos, basta que examinemos as leis 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e 12.715, de 17 de setembro de 2012. A primeira, com mais de 90 artigos, trata de assuntos gerais de tributação, a segunda com mais de 50 artigos refere-se ao chamado Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários e a terceira contendo 79 artigos, mistura contribuições previdenciárias, programa de incentivo à tecnologia, programa de banda larga para internet e inúmeros outros assuntos, alterando diversas leis, medidas provisórias e até decreto-lei.
Esta última (12.715/2012) pode e deve ser considerada em desacordo com o sistema constitucional, pois desobedece a normas da Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998, que seu artigo 7º, inciso II, ordena que:
“a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão.”
Já manifestamos nossa estranheza ante tal irregularidade da seguinte forma:
“Ora, cada lei deveria tratar exclusivamente de um determinado assunto, exposto com clareza em sua ementa. Caso contrário, quando alterar o Código de Trânsito, o congresso pode enfiar um adendo regulando o uso da maconha, ou ao legislar sobre a criação de gado, por exemplo, tentar ali regular o exercício da prostituição. Como se sabe, a imaginação dessa gente não tem limites.”
O artigo 69 da CF estabelece que as leis complementares devem ser aprovadas por maioria absoluta. Mas elas se diferenciam das leis ordinárias também por outros requisitos, o principal deles o que se relaciona com a matéria de que tratam. Isso faz com que haja inegável hierarquia entre as leis, apontando que não pode a ordinária deixar de observar os limites da lei complementar.
O STJ já decidiu que em matéria tributária a lei ordinária não pode contrariar a norma da complementar, considerada de hierarquia superior. Tanto assim é que a ela se atribui competência exclusiva para definir aspectos essenciais da tributação, como se vê no artigo 146 da CF.
Mas não é só a falta de atualização do texto que indica desatenção ao regulamento. Verificamos que em inúmeros artigos dá-se importância indevida a valores que são meras bagatelas sem importância. Por exemplo: no artigo 718, parágrafo 1º, ao definir quais são os bens que a pessoa física deve incluir na sua declaração, exige-se a indicação de aplicações financeiras ou saldos bancários que ultrapassem míseros R$ 140 e investimentos em ações que superem ridículos R$ 1 mil.
Valores tão irrelevantes não deveriam ser declarados, pelo simples fato de que em nada alteram a situação do contribuinte. Se temos um salário mínimo que gira em torno de R$ 700, mais sensato seria que aqueles valores fossem declarados apenas ao ultrapassar pelo menos R$ 14 mil ou mesmo R$ 28 mil, em proporção ao valor mínimo da renda anual que obriga a própria declaração.
Já deixamos clara, em coluna anterior, a necessidade de que todos os valores fixados na legislação tributária precisam ter seus valores atualizados e colocados na realidade atual. Devemos ter em conta que não há razão lógica suficiente para que praticamente toda a população brasileira seja obrigada a declarar impostos, quando todos sabemos que o seu poder aquisitivo não justifica tal necessidade.
Os conceitos de classes sociais que tem sido divulgados na imprensa ultimamente não condizem com a realidade. Pretender que integre a classe média uma pessoa qualquer cuja renda dá apenas para suas necessidades básicas, mantendo-a no mais das vezes dependente de serviços públicos ou mesmo atrelada a dívidas permanentes, não é razoável e não atende à necessidade de promover o que se convencionou chamar de justiça social. Isso não resolve sequer eventuais crises de auto-estima.
O Imposto de Renda pode e deve ser o mais justo de todos os impostos recolhidos pelo brasileiro. Mas para alcançar esse objetivo, deve corrigir as suas deficiências, a começar pela adoção de uma política realista de correção de valores, em todos os sentidos.
Não é justo, por exemplo, que seja tributado o chamado ganho de capital, quando não se permite uma correção verdadeira e integral dos valores de aquisição dos bens que são vendidos. Mesmo com as mudanças introduzidas nesse caso pela legislação que ainda não está consolidada no regulamento, ainda há incidências mesmo que parciais sobre valores que não constituem ganho de capital ou lucro, mas apenas variação do poder aquisitivo da moeda.
Se o contribuinte adquire um bem que pela simples ação da inflação (de onde sai a correção monetária) tem o seu valor nominal alterado para mais, nada ganhou, não houve ganho de capital algum. Portanto, não tem que pagar nada de imposto e não pode ser vítima de mecanismos que, ao longo do tempo, ora impediram qualquer correção, ora admitiram um arremedo de correção que continua a causar perda real ao patrimônio do cidadão.
Trata-se de confisco, não de tributação, pois não houve lucro. Confisco, como se sabe, é vedado pela CF. Nós, contribuintes, ao pagarmos o tal imposto sobre ganho de capital, quando o bem adquirido não foi integralmente corrigido pela inflação do período, estamos sendo furtados, achacados, tapeados! Não existe justiça nisso!
A nossa relação com o Fisco não pode mais continuar como está. As autoridades fazendárias não podem cobrar imposto com efeito de confisco, porque isso chega mesmo a parecer o crime explícito no CP, artigo 316. Precisamos rediscutir o sistema todo, para corrigir essas distorções e impedir esses abusos.
Mas não é só: não podemos ser tratados como se fôssemos todos sonegadores, fraudadores ou meliantes. A lei existe para punir os que não a cumprem. No caso de sonegação, a pena não é leve, podendo chegar a cinco anos de reclusão.
Já é tempo das autoridades fazendárias reconhecerem que as relações entre servidores públicos e cidadãos são de respeito recíproco: nós as respeitamos, porque são autoridades e elas nos respeitam porque somos cidadãos que as sustentam e porque a lei assim o determina. Essa ridícula propaganda que algum desmiolado inventou ao apelidar o fisco de leão, não faz sentido algum. Lugar de leão é no zoológico, no circo ou na África, não na repartição pública. Os servidores públicos não precisam se fantasiar de animais para nos impor algum medo. A questão é simples: devemos pagar os impostos porque eles são necessários ao bem comum, ao equilíbrio econômico do país e à harmonia social. Não devemos ter medo, mas apenas interesse em vermos respeitados os nossos direitos, todos eles claramente definidos na Constituição.
Não será com ameaças ou com tributação de bagatelas que nos fazem RIR, que faremos deste país o que todos nós merecemos.
Raul Haidar é jornalista e advogado tributarista, ex-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-SP e integrante do Conselho Editorial da revista ConJur.
Disponível em: http://www.conjur.com.br/2013-abr-29/justica-tributaria-vitimas-irpf-bagatelas-nao-fazem-rir. Acesso em: 29 abr. 2013.