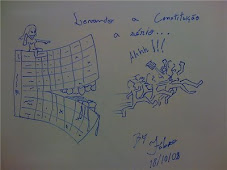"Magistratura está intimidada com atuação do CNJ"
De tempos em tempos, o Supremo Tribunal Federal se vê prensado pelo dilema entre a preservação dos valores constitucionais e o clamor público. Este é um desses momentos, afirma o ministro do STF, Marco Aurélio. A ideia de que o país será mais justo dando poderes excepcionais ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) não faz parte do credo do ministro. Para ele, "nem no auge do regime de exceção no Brasil ou na União Soviética o Estado institucionalizou a invasão da privacidade do cidadão, como se pretende fazer hoje no país". Marco Aurélio enfatiza que o STF já deixou claro que apenas instâncias judiciais — e jamais órgãos administrativos — podem suspender a privacidade do cidadão, o que foi estabelecido em julgamentos que proibiu o Fisco de quebrar sigilos sem a interveniência do Judiciário.
Em 19 de dezembro, horas depois da última sessão do ano do STF, dedicada à posse da ministra Rosa Maria Weber, o ministro deu liminar para fixar que o Conselho nacional de Justiça só pode processar juízes por desvios ético-disciplinares depois da ação ou em caso de omissão das corregedorias dos tribunais locais. A decisão — incrementada no mesmo dia por outra liminar do ministro Ricardo Lewandowski, também impondo limites à atuação do CNJ — era esperada. Crítico da atuação “quase que policialesca” do Conselho, como disse em entrevista à revista Consultor Jurídico, Marco Aurélio liberou a ação que contesta os poderes do CNJ para julgamento em Plenário em 5 de setembro e esperou 14 sessões para julgá-lo. Em vão. Marco, então, pôs em prática, como de praxe, uma de suas muitas frases características: “Não peco por ato omissivo”.
De fato, o ministro Marco Aurélio, como todo homem público, está sujeito a críticas, mas omisso ele não é. Da chamada pauta positiva que o Supremo tentou implementar internamente no segundo semestre — que consistia em evitar processos cujas decisões poderiam ser impopulares — às mudanças repentinas na pauta do tribunal que tanto atrapalham os advogados, nada escapou às observações do ministro.
Em uma das últimas sessões do ano passado, por exemplo, o ministro criticou o fato de um recurso com repercussão geral ter sido incluído na pauta na véspera do julgamento, às 23h. Reforçou a necessidade de o Supremo cumprir a pauta e, assim, conferir-lhe credibilidade e ressaltou que se até ele mesmo havia sido pego de surpresa com a inclusão do processo para julgamento, o que dizer do advogado da parte, que muitas vezes sai de outros estados para vir a Brasília para as sessões, cujo trabalho é guiado pela pauta publicada dias antes.
Na semana anterior à que deu a liminar impondo freios ao CNJ, o ministro recebeu a ConJur em seu gabinete para conceder uma entrevista para o Anuário da Justiça Brasil 2012, que será lançado em março. Na entrevista, Marco Aurélio atacou a atuação do CNJ, a banalização no uso de Habeas Corpus que ajuda a aumentar o congestionamento dos tribunais, a decisão do Superior Tribunal de Justiça de não aumentar o número de ministros, a PEC dos Recursos, entre outros temas polêmicos do Judiciário.
Há mais de 20 anos no STF, Marco Aurélio julga e discute com o mesmo entusiasmo de quem acabou de tomar posse. E avisa: “Se aumentar a idade da aposentadoria compulsória para 75 anos, terão que me aguentar por mais cinco anos. E eu espero continuar com o mesmo pique”. Nesta segunda-feira (9/1), o ministro estará no programa Roda Viva, da TV Cultura, a partir das 22h, repassando as críticas ao CNJ feitas no Plenário do Supremo e na entrevista abaixo, à ConJur.
Leia os principais trechos da entrevista.
ConJur — A competência do CNJ para abrir e julgar processos ético-disciplinares contra juízes é concorrente ou subsidiária?
Marco Aurélio — A atuação é uma atuação subsidiária. Isso está demonstrado em cláusula da Constituição, no que prevê que, encerrado o processo administrativo no tribunal, que goza de autonomia administrativa e financeira, até um ano após o CNJ pode avocar. E claro que essa previsão pressupõe o início do processo administrativo no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. Não dá para atropelar, para criar. Isso não interessa à sociedade brasileira, não é avanço cultural. Eu já disse que hoje a magistratura está realmente intimidada.
ConJur — O senhor acha que os juízes temem o CNJ?
Marco Aurélio — Vou contar, apenas para revelar, um exemplo doméstico. Minha família tem base no Rio de Janeiro. Tenho meus irmãos, meus sobrinhos, duas filhas e um único neto no Rio. Minha mulher [desembargadora Sandra De Santis] tem os pais ainda vivos no Rio, tem um irmão que é pai de trigêmeas. Então, eu disse a ela: “Sandra, vamos pelo menos uma vez por mês ao Rio”. Ela disse: “Eu não posso”. Eu perguntei: “Por que você não pode?”. Ela respondeu: “Tenho meus processos”. Aí eu indaguei a ela: “E os meus?”. Resposta que ela me deu: “Você não tem o CNJ no calcanhar”. Se isso ocorre com ela, ocorre com outros juízes. Claro, a responsabilidade dela é maior por ser casada com um ministro do Supremo crítico dessa atuação quase que policialesca do CNJ. Mas o CNJ tem um papel importantíssimo, que é pensar na estruturação do Judiciário, no Judiciário de amanhã. Ele não pode pretender substituir-se a mais de 50 corregedorias. Mesmo porque teria que ser um órgão muito grande — quem sabe até expulsando o Supremo do prédio do próprio Supremo.
ConJur — O senhor critica até mesmo o fato de a sede do CNJ e do Supremo serem no mesmo prédio, não?
Marco Aurélio — Sim. Eu estou lutando para ver se um anexo do TSE fica com o CNJ. Estou tentando estimular o presidente do Supremo a conseguir que o anexo onde está a informática, que é um prédio de 4.700 metros quadrados independente, que fica em outro lote, seja destinado ao CNJ. Por quê? Porque o CNJ foi instalado aqui no Supremo e eu acho que é prazeroso para aqueles que o integram dar como o endereço o Supremo Tribunal Federal. E há essa mesclagem que não é boa, inclusive com a expulsão de órgãos administrativos do STF para outros prédios em Brasília, para abrir espaço para o CNJ.
ConJur — A Súmula Vinculante e a Repercussão Geral fizeram cair muito o número de recursos que chegam ao Supremo Tribunal Federal. Mas o volume ainda é enorme para um tribunal cuja missão é guardar a Constituição. São necessários outros filtros?
Marco Aurélio — Temos que reconhecer o lado positivo da Repercussão Geral. Nós voltamos a discutir grandes teses em Plenário. Antes se liquidava de forma monocrática. E com o verbete ou a Repercussão Geral houve a racionalização dos trabalhos, no que se evita a subida de processos versando a mesma matéria. Mas nós continuamos com um número de processos, principalmente de Habeas Corpus, absurdo. Há a necessidade de buscarmos meios para afastar essa avalanche de processos. Eu propus, por exemplo, no campo relativo ao Habeas Corpus, que se editasse um verbete para se dizer o óbvio: Contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Habeas Corpus, cabível, como está na Constituição, é o Recurso Ordinário Constitucional dentro de 15 dias.
ConJur — O Habeas Corpus virou um substituto processual?
Marco Aurélio — O que ocorre? A defesa deixa transitar em julgado a decisão do STJ indeferindo a ordem e quando a coisa aperta lá embaixo, no processo crime, vem a qualquer tempo ao Supremo, esvaziando a previsão constitucional de cabimento do Recurso Ordinário, porque o Habeas não está sujeito ao pressuposto da oportunidade. Propus esse verbete há dois anos. Não sei onde está. Não há interesse. E ficamos julgando e julgando... Você comparece à sessão da 1ª Turma e pensa que estão em uma câmara criminal.
ConJur — Os pedidos de Habeas Corpus tomam toda a pauta?
Marco Aurélio — Eu liberei no final do ano cerca de 50 Habeas Corpus para julgamento, e não conseguimos julgar todos. Ficaram alguns para 2012. Agora, nós precisamos estabelecer o enxugamento do rol recursal sem a transgressão ao direito de defesa. Não dá para simplesmente se negar jurisdição, porque estaríamos indo contra a cláusula que prevê o acesso ao Judiciário.
ConJur — O senhor considera que há um abuso no manejo de Habeas Corpus? É possível restringir o uso do HC?
Marco Aurélio — Não, mas é impressionante a generalização. O Habeas Corpus, de início, deve estar voltado ao afastamento do cerceio ou a ameaça de cerceio à liberdade de ir e vir. Mas hoje se questiona tudo. Não se aguarda, por exemplo, sequer a tramitação da ação. Não se aguarda, por exemplo, o julgamento de um recurso de apelação na corte revisional. Impetra-se um Habeas Corpus junto à corte de origem. Indeferida a ordem ou indeferida a liminar, se entra com outro Habeas Corpus no STJ. Indeferida a ordem ou indeferida a liminar, se entra no Supremo. Como se o Habeas Corpus fosse um atalho para se chegar a certo resultado. E não é! Você barateia, para utilizar uma expressão do ministro Francisco Rezek, uma ação nobre.
ConJur — O senhor considera que há um abuso no manejo de Habeas Corpus? É possível restringir o uso do HC?
Marco Aurélio — E isso faz com que, ante a carga invencível dos órgãos judicantes, os juízes não dêem a atenção que deveriam dar a essa ação nobre. Basta considerar o que se tem como padrão de decisão em termos de indeferimento da liminar no STJ. A fundamentação serve para todo e qualquer processo. Portanto, não é fundamentação.
ConJur — Por conta disso, o senhor propôs o aumento do número de ministros do STJ. Como o senhor recebeu a decisão do tribunal de não aumentar o número de ministros?
Marco Aurélio — Era mais do que esperado. É difícil e é ruim que se note isso no Judiciário. É difícil ter pessoas que percebam o interesse primário, que é o interesse dos cidadãos em geral, colocando em segundo plano o poder. O poder é algo que, realmente, as pessoas não pretendem dividir.
ConJur — O senhor acha que a PEC dos Recursos, proposta pelo ministro Cezar Peluso, é uma boa saída para dar efetividade às decisões judiciais?Marco Aurélio — Já me manifestei expressamente no sentido de que a PEC subverte o sistema, no que se aponta “uma preclusão maior da decisão de origem”, mesmo que ainda sujeita a recurso. Recurso em uma via afunilada, que é o recurso de natureza extraordinária, para o STJ ou para o Supremo. O presidente [Cezar Peluso] — que primeiro lançou a proposta no Rio de Janeiro, na Fundação Getulio Vargas, para só depois ouvir os integrantes do Supremo — com honestidade intelectual, admitiu que o único que se pronunciou, e se pronunciou de forma contrária à proposta, fui eu. Eu continuo acreditando que nós temos que guardar princípios. E que, no caso, os princípios básicos estão na Constituição Federal.
ConJur — Nos últimos anos o Supremo diminuiu vigorosamente a aprovação de novas súmulas vinculantes. Por quê?
Marco Aurélio — Por quê? É difícil saber, não é? Há a comissão de jurisprudência e há a Presidência, com um staff, inclusive com a participação de juízes auxiliares, que podiam se debruçar sobre o tema. Aliás, a Presidência vem reunindo e mandando aos ministros pastas sobre temas já pacificados, mas não se tem partido para edição de verbetes.
ConJur — O Supremo já declarou inconstitucionais, por exemplo, incentivos fiscais que provocam a guerra fiscal. Mas os estados continuam concedendo benefícios. O senhor acha que esse é um caso de Súmula Vinculante?
Marco Aurélio — A ausência de respeito às decisões do Supremo revela a quadra do nosso Estado, que talvez não seja, como se diz na nomenclatura, um Estado Democrático de Direito. É inconcebível que o Supremo decida, e decida de forma reiterada, e o Poder Público — gênero, estados, municípios ou a União — a decisão. O que nós precisamos no Brasil é de ética. É de homens, principalmente homens públicos, que observem a ordem jurídica constitucional. Eu sempre digo que se paga um preço, e ele é módico, para se viver em uma democracia. E está ao alcance de todos, mas parece que não está ao alcance dos homens públicos, que é o respeito às regras estabelecidas.
ConJur — Como o senhor vê o fato de o Poder Executivo modificar o orçamento que vem do Poder Judiciário antes de enviá-lo ao Congresso Nacional?
Marco Aurélio — Um atropelo inconcebível. Quando veio a Constituição de 1988, nós tivemos o primeiro problema. Houve uma reunião do Supremo e o tribunal assentou que os poderes, quanto à confecção do orçamento para submissão a quem de direito, são independentes. Executivo e Judiciário ombreiam. E temos decisões nesse sentido no campo jurisdicional. Eu deferi liminar, inclusive contra ato da governadora do Rio Grande do Sul. Tivemos “n” casos. Mas há essa tendência do estado de querer tutelar o cidadão, o que é péssimo. A liberdade deve ser atônica. Não é? E agora também de o Executivo, em uma hipertrofia imensurável, querer tutelar o Judiciário. O que compete ao Executivo é consolidar as propostas orçamentárias como elas são apresentadas e encaminhar ao Congresso Nacional. O Congresso, sim. O Congresso pode alterar a proposta.
ConJur — O senhor citou o movimento do Estado de querer tutelar os cidadãos, decidir inclusive questões que seriam de foro íntimo, como se os cidadãos fossem todos incapazes. Muitos citam como exemplo desse movimento a própria Lei da Ficha Limpa. Como o senhor vê esse movimento?
Marco Aurélio — É ruim. E é ruim porque é progressivo. Eu uma vez disse que a sociedade ,quanto aos representantes que possui, não é vitima. Ela é autora. Nós somos responsáveis pelos eleitos. O Pelé que disse que o brasileiro não sabe votar. Não é que ele não saiba votar, é que ele não percebe o significado do voto, que é uno, mas se soma a tantos outros e implica a escolha do candidato. Então, nós temos situações aí que são situações realmente esdrúxulas. Por exemplo: o parlamentar renuncia antes da instauração de um processo de cassação, depois se candidata e volta à casa legislativa. E fica por isso mesmo. Não há um avanço cultural. Agora, nós precisamos de uma lei, como está na Constituição, que revele as inelegibilidades para se tentar frear. O que se quer é frear a apresentação de pessoas que buscam o cargo não para servirem aos semelhantes, mas para se servirem do próprio cargo.
ConJur — Em um recente julgamento no TSE o senhor voltou a criticar a reeleição, dizendo que o candidato, que não é obrigado a deixar o cargo, acaba usando a máquina administrativa em seu benefício. O senhor acredita que a reeleição será revista?
Marco Aurélio — Acredito. Às vezes a coisa precisa ficar muito crítica para ser revista. É o que vai ocorrer com a reeleição. É um passeio tentar a reeleição. E o que ocorre é que a disputa é uma disputa super desequilibrada. Aquele que concorre com alguém que tenta o segundo mandato não concorre nas mesmas condições. O exemplo maior que nós já tivemos, em relação à Presidência da República, e temos em relação aos estados e aos municípios. E agora ainda surge uma flexibilidade quanto à postura que implica a transgressão a lei em termos de conduta do administrador que visa à reeleição. Para alguns, se tem a opção de, ao invés de se cassar o diploma do eleito, simplesmente se impor uma multa. Tive a oportunidade de votar no Plenário do TSE no julgamento do processo que pedia a cassação do governador de Alagoas [Teotônio Vilela Filho (PSDB)] e iniciei meu voto dizendo que hoje se compra a transgressão da lei. E sai barato. Uma multa de R$ 10 mil reais para se ter um cargo como o de governador é muito barato.
ConJur — O Judiciário vem ocupando o lugar do Legislativo, como apontam muitos críticos?
Marco Aurélio — O Judiciário não substitui o Legislativo. Essa é uma visão míope. A nossa atuação é sempre uma atuação vinculada ao direito posto. A Constituição Federal de 1988 trouxe uma ação que é mandamental, o Mandado de Injunção, para justamente evitar que a inércia do Parlamento, deixando de regulamentar um direito assegurado constitucionalmente, implique prejuízo para o cidadão. Então, nós atuamos. E quando nós atuamos o Legislativo percebe que realmente está a dever, e a dever muito, à sociedade. E criticam. Há pouco começamos a julgar a problemática do aviso prévio proporcional. Eu fui até adiante para preconizar algo realmente de envergadura maior, visando alertar, então correram com o projeto de lei e a previsão do aviso prévio proporcional, que data de 1988, foi aprovada em 2011. Deveriam ter aprovado imediatamente após a Carta. E continuamos com “n” artigos a encerrarem direitos dos cidadãos em geral na Constituição sem regulamentação. Como eu disse em voto, trata-se de uma inapetência do Congresso Nacional. E ele precisa atuar para buscar junto aos olhos da sociedade o próprio fortalecimento.
ConJur — Qual a opinião do senhor sobre a PEC que aumenta de 70 para 75 anos a aposentadoria compulsória no serviço público?
Marco Aurélio — Sou favorável. Escrevi um artigo sobre isso na Folha de S. Paulo em 2002, com o título O Brasil lugnagiano — o castigo da aposentadoria compulsória. Eu, por exemplo, o que considero um absurdo, poderia ter me aposentado aos 49 anos. Mas a prata nunca me seduziu. Sinto-me um homem realizado julgando. Ainda enfrento hoje um processo como se fosse o primeiro da minha vida, com o mesmo entusiasmo, com a mesma paciência de folhear o processo físico. Minha mulher já reclama. Ela é desembargadora e está aguardando que eu me aposente, porque ela também já tem tempo para se aposentar. E ela reclama porque eu já disse que se aumentar a idade da compulsória para 75 anos, terão que me agüentar mais cinco anos. E eu espero continuar com o mesmo pique.
by Rodrigo Haidar e Pedro Canário
Fonte: ConJur