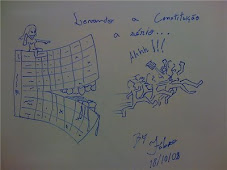A Constituição, que no próximo ano completa vinte e cinco anos, procurou
dotar o país de uma administração pública capaz de dar conta dos desafios que a
complexidade da sociedade brasileira, sedenta por justiça social, oportunidade e
desenvolvimento, impõe. O intento se apresentava, igualmente, como uma reação a
uma história marcada pelo patrimonialismo, pelo clientelismo, pelo compadrio,
pela confusão recorrente entre o público e o privado. Daí a exigência de
concurso público para ingresso na função pública, a fixação de princípios
reitores da conduta do agente público, como o da legalidade, impessoalidade, da
moralidade e da probidade, mais tarde acompanhados, em função de emenda
constitucional, pelo da eficiência, todos seguidos de regras estritas
vinculantes do agir administrativo. O legislador, por seu turno, aprovou uma
série de leis cuidando do tema, tudo para satisfazer a exigência constitucional
de uma administração pública republicana, transparente, proba e eficiente. Há,
todavia, uma imensa distância entre as proclamações do constituinte ou do
legislador e a realidade que o cidadão enfrenta todos os dias. Problemas de
má-gestão de verbas públicas, insuficiência de equipamentos, filas nos
hospitais, deficiência na prestação do serviço público educacional, déficit
habitacional, falta de saneamento ou infraestrutura sucateada são mais do que
evidentes. Problemas, aliás, que se arrastam, há anos, porque não são
enfrentados de modo racional e planejado pelos gestores públicos. Nossa
administração pública, afirme-se, não é profissional, nem eficiente.
É evidente que o planejamento, a capacitação permanente dos servidores, a boa
execução orçamentária, a definição de políticas públicas adequadas a partir da
eleição racional das prioridades, o tratamento do cidadão com respeito e
consideração, o combate à corrupção e às más práticas administrativas, a
participação dos implicados no universo das escolhas públicas, a radicalização
da transparência, tudo isso conforma um feixe de sugestões úteis para a melhoria
da administração pública. Ora, sobre o tema, sempre fascinante, há farta
literatura e os bons gestores, com apoio nos estudos mais estimulantes, não
medem esforços para aproveitá-la.
Há, todavia, uma questão que tem passado ao largo dessas discussões. E ela
envolve a organização constitucional dos poderes. Promulgada a Constituição de
1988, o cientista político italiano Giovanni Sartori, em estudo sobre a
engenharia constitucional comparada, apontou, entre outros, o brasileiro como um
sistema de governo incapaz de funcionar. Sérgio Abranches, por seu turno,
estudando a sua configuração política e constitucional, chamou de
presidencialismo de coalizão o sistema que estamos a experimentar. Mais
recentemente, os professores Fernando Limongi e Oscar vilhena procuraram
demonstrar que, apesar da crítica de Sartori e da desconfiança de Abranches, o
presidencialismo de coalizão funciona. O país, afinal, resolveu,
institucionalmente, as crises pelas quais passou nos últimos anos. Mais do que
isso, o Executivo tem conseguido impor as políticas que, com o apoio do
Legislativo, procura implementar. Não há, portanto, paralisia governamental.
Importa, todavia, perguntar, a que custo funciona? O custo, responda-se logo, é
altíssimo. E não é apenas econômico.
O presidente da República, entre nós, acumula competências que, para citar
apenas um exemplo, o estadunidense está longe de possuir. Tem iniciativa de lei
e de emenda à Constituição, algumas leis sendo inclusive de sua iniciativa
exclusiva, pode editar medidas provisórias e leis delegadas, pode nomear
livremente os seus ministros (nos Estados Unidos há necessidade de aprovação do
Senado), aliás em número exagerado, dispõe de milhares de cargos em comissão,
pode contingenciar o orçamento que no Brasil, ao contrário de outros países, não
é vinculante, inclusive as dotações derivadas de emendas parlamentares,
dispondo, ainda, de verbas que distribui para estados e municípios em função de
critérios políticos e, portanto, pouco racionais ou transparentes
(transferências voluntárias). Pois esse presidente forte do ponto de vista
jurídico; sob o ângulo político, diante da fragmentação do sistema partidário,
da fragilidade dos mecanismos de sanção das condutas marcadas pela infidelidade
do mandatário às diretrizes da agremiação, do modo de composição da Câmara dos
Deputados (não representativo da população dos estados) e do papel exercido pelo
Senado Federal (câmara revisora para todos os temas), tem dificuldades não
propriamente para compor maioria, mas antes para manter a disciplina dos
aliados, alguns deles fiéis, outros tantos oportunistas. Aqui reside a sua
fraqueza. Que não importa em ingovernabilidade, como supunha Sartori, tanto que
85% das leis aprovadas pelo Congresso Nacional são de iniciativa ou de interesse
do Executivo. O problema é o custo da governabilidade, um custo de tal modo
transbordante que implica práticas transitando na contramão das promessas do
constituinte em relação à boa governança e aos princípios reitores da
administração pública. O mensalão representaria de modo eloquente o que vem de
ser afirmado. A exigência de governabilidade, que não é garantida de modo
institucional, reclamaria uma espécie de realismo político suficiente para
justificar determinadas condutas administrativas heterodoxas que vão sendo
aceitas com naturalidade e despudor.
Daí o grande número de cargos em comissão, que são distribuídos entre os
partidos aliados, a partilha dos ministérios e de outros importantes órgãos e
entes públicos entre os membros da coalizão, a distribuição de verbas para
governadores politicamente próximos por meio de transferências voluntárias, o
mesmo ocorrendo com organizações do terceiro setor, as obras executadas nos
municípios amigos, a liberação a conta gotas, e em momentos que precedem
relevantes votações no Congresso Nacional, das emendas parlamentares ao
orçamento, o rigor administrativo seletivo, a advocacia administrativa
impulsionando a tomada de decisões, os aditamentos de contratos, certas
dispensas e inexigibilidades nos processos licitatórios, a redação pelos
próprios licitantes dos editais de concorrência, a bondade na aferição da
qualidade e da quantidade nas obras públicas, etc. Em síntese, todos os esforços
para a melhoria da gestão pública ficam comprometidos pela lógica política
perversa que contamina o que devia constituir trabalho planejado, racional,
impessoal, transparente, probo e eficiente.
Nem se afirme que em outros importantes países a maioria também é composta em
função de acordos ou da associação entre vários partidos. Isso é verdade, mas o
resultado é distinto porque o acordo político supõe obrigatória definição de um
plano de governo, sendo certo que a concertação envolve isso, tudo isso e apenas
isso. Depois, em função do plano, os nomes são escolhidos e o governo governa
sem as práticas comuns por aqui, podendo ser cobrado exclusivamente quanto à
fidelidade de sua ação ao plano aprovado em conjunto. Percebendo isso, não
podemos negar que temos um problema. O nosso problema, afirme-se nesta altura,
não é propriamente cultural, como querem alguns, mas institucional. O brasileiro
não é alguém especialmente vocacionado para as práticas administrativas
condenáveis. São as instituições que precisam ser aperfeiçoadas. Talvez seja
oportuno entender que a melhoria da administração pública, para além das medidas
usualmente apontadas pelos juristas e gestores, todas sem dúvida necessárias,
reclama também um olhar cuidadoso incidente sobre a nossa máquina
constitucional, essa máquina que está falhando na entrega daquilo que foi
prometido há quase vinte e cinco anos e que, por isso, merece reparos.
by Clèmerson Merlin Clève, professor-titular das Faculdades de Direito da UFPR e da
UniBrasil, vice-presidente da Associação Brasileira dos Constitucionalistas
Democráticos (ABCD).
Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/justica-direito/artigos/conteudo.phtml?tl=1&id=1294461&tit=O-presidencialismo-de-coalizao-e-a-administracao-Publica. Acesso em: 23 set. 2012.