Em 2012, o Superior Tribunal de Justiça recebeu 275 mil novos recursos judiciais e julgou 362 mil processos, entre decisões individuais de seus ministros e coletivas, proferidas pelas turmas e seções do tribunal. Feitas as contas, descontados os dois meses de recesso judicial e os três ministros que não participam destes julgamentos (presidente, vice e corregedor), cada um dos 30 ministros do STJ proferiu 1.200 decisões por mês. Um volume que não encontra precedente em corte superior de nenhum outro país.
É com os olhos nestes dados que o ministro Luis Felipe Salomão, presidente da 4ª Turma do STJ, afirma que o papel da Corte foi desvirtuado por “um sistema recursal anárquico” que transformou o tribunal em terceira instância e o impede de cumprir a contento sua missão de uniformizar a interpretação da legislação federal no país. E, principalmente, julgar as questões que são realmente importantes para a cidadania. Em entrevista à revista Consultor Jurídico, concedida para a composição do Anuário da Justiça Brasil 2013, que será lançado em março, o ministro aponta saídas para o engarrafamento judicial.
Para o STJ, a tábua de salvação é a aprovação pelo Congresso Nacional da proposta que institui a chamada relevância da questão federal — mecanismo semelhante à repercussão geral já em uso pelo Supremo Tribunal Federal. Para o Judiciário de forma geral, a solução é a criação de um caldo de cultura de conciliação e mediação e a percepção de que a lentidão judicial provocada pelo volume não é um assunto apenas da Justiça. “Trata-se de um problema de política pública, que demanda o envolvimento dos três poderes da República e da sociedade em geral”, afirma Salomão.
O ministro aposta que o trabalho em cima de métodos alternativos de resolução de conflitos, que evite que todo e qualquer litígio chegue à Justiça, é um caminho para diminuir o fluxo processual: “Sobretudo as chamadas demandas de massa poderiam ser resolvidas com um sistema de mediação mais adequado”. Na Presidência da Comissão de Reforma da Lei de Arbitragem do Senado, Salomão acredita que poderá começar a estudar as possibilidades de evitar que os conflitos deságuem todos no Judiciário. “Não temos a tradição de trabalhar soluções alternativas. Nas universidades não há cadeiras que tratem de mediação ou conciliação. Só cadeiras que ensinam a redigir petição inicial, contestação, recurso”, lembra o ministro.
Para Salomão, é preciso acabar com o “jogo de empurra” que interessa apenas a quem ainda usa a lentidão judicial como forma de ganhar dinheiro: “Todos estão acomodados. As empresas estão acomodadas. Os grandes litigantes do Judiciário estão acomodados porque transferiram o seu call center para a Justiça”. O ministro também enfatiza a necessidade de se aprimorar as técnicas de gestão eficiente do serviço judicial.
Leia os principais trechos da entrevista
ConJur — É possível construir uma jurisprudência que leve em conta a doutrina, as leis e as aspirações populares?Luis Felipe Salomão — Há alguns anos, a professora Maria Tereza Sadek fez uma pesquisa encomendada pela AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros). Uma das perguntas era o que os juízes levavam em conta na hora de decidir: o impacto social, o impacto econômico, o impacto popular. A pesquisa detectou que os juízes calibram bem todos os aspectos em suas decisões. O juiz não é um ser extraterrestre que não leva em consideração nenhum desses fatores para decidir. Leva sim, claro! Quando o juiz vai decidir, ele pondera valores, trás toda a bagagem cultural de sua vida e procura ver a solução mais justa para o caso concreto, mas também com o olho na consequência de suas decisões. A maioria age dessa forma. A doutrina tem um papel importantíssimo. A opinião da academia é valiosa. Nem sempre é correta para os casos em julgamento, mas é considerada. O juiz tem, sim, de observar os impactos sociais e econômicos de suas decisões. Mas o peso que será dado a esses fatores depende do assunto, das circunstâncias e da história de vida do juiz que vai prolatar a decisão.
ConJur — O maior gargalo da Justiça ainda é a lentidão no julgamento dos processos. Recentemente a Corte Europeia de Direitos Humanos condenou a Grécia a indenizar um cidadão vítima da lentidão judicial. O senhor acha que isso pode ocorrer no Brasil?Salomão — Se não houver prova de desídia e de má-fé do juiz ou de servidor, penso que não há direito a indenização. Mas a condenação do tribunal europeu não se deu só com a Grécia. A Itália é um país que tem uma série de condenações por lentidão judicial e até hoje tem uma legislação processual intrincada. Eu gostaria de ver a renovação de uma pesquisa feita pelo professor Mauro Cappelletti (doutor em Direito pela Universidade de Florença e professor da Universidade de Standford) em parceria com o professor Bryant Garth (doutor em Direito pela Universidade de Standford) que resultou no livro Acesso à Justiça. Eles compararam o tempo de duração dos processos em países variados, o custo e as soluções para resolver os problemas. A pesquisa foi feita há mais de 20 anos, com o apoio da Fundação Ford. Não conheço trabalho semelhante no mundo. O Banco Mundial financia algumas pesquisas...
ConJur — Mas o foco é outro, mais econômico, não? É o foco da segurança jurídica para investimentos.Salomão — São os negócios internacionais. Segurança jurídica para o ambiente de negócio. Seja como for, o fato é que precisamos cuidar da questão do tempo, da duração da demanda, que é um problema que aflige a maioria dos países civilizados. O Judiciário tem, sim, sua parcela de responsabilidade pela lentidão. Mas esse é um problema de política pública. Não é um problema isolado. É necessário trabalhar as soluções alternativas à jurisdição ou métodos alternativos de resolução de conflitos, sem que tudo acabe chegando à Justiça. Sem trabalhar fórmulas alternativas, não diminuiremos o fluxo de entrada, que hoje é muito volumoso. Sobretudo as chamadas demandas de massa poderiam ser resolvidas com um sistema de mediação mais adequado. Mas fica um jogo de empurra. Há também, por outro lado, a necessidade relativa ao treinamento mais adequado dos juízes e servidores para o tema da gestão judicial.
ConJur — Tem-se a impressão que há uma acomodação, uma resignação com o fato de que a Justiça é lenta, quase como se essa fosse uma característica intrínseca.Salomão — Todos estão acomodados. As empresas estão acomodadas. Os grandes litigantes do Judiciário estão acomodados porque transferiram o seu call center para a Justiça.
ConJur — Por quê?Salomão — Talvez porque isso implique redução de custos. Deve ser mais barato deixar acionar o Judiciário do que manter um call center que efetivamente resolva os problemas. Virou uma indústria em que muitos ganham dinheiro. Em todas as demandas se acrescem pedidos de indenização por danos morais e os recursos se multiplicam. Nós não temos a tradição de trabalhar soluções alternativas. Nas universidades não há cadeiras que tratem de mediação ou conciliação. Só cadeiras que ensinam a redigir petição inicial, contestação, recurso. O advogado aprende apenas a litigar, quando o foco, hoje, deveria ser compor conflitos.
ConJur — O que é preciso fazer para solucionar isso?Salomão — Dar um cavalo de pau. O CNJ vem atuando voluntariosamente com a Semana da Conciliação, por exemplo. É um esforço louvável. Mas é necessário o envolvimento dos três poderes da República e da sociedade organizada para resolver o problema. E, sobretudo, criar um caldo de cultura de mediação de conflitos. É questão de política pública do Estado Brasileiro, não só do Judiciário.
ConJur — Mas o senhor identifica algum fator chave que dá combustível à lentidão judicial?Salomão — São inúmeros fatores. Outro fator importante, além daqueles já mencionados, é o sistema processual. Temos um sistema de recursos anárquico, que permite transformar o STJ e o STF em terceira e quarta instâncias, desvirtuando o papel dessas cortes. Eu acredito também que dentro de pouco tempo deverá ser feita uma discussão séria a respeito da transformação da Suprema Corte do país em Corte Constitucional. Nós temos o sistema europeu de julgamento de recursos com o modelo americano de Corte Suprema. É hibrido. E isso leva a distorções. O desvirtuamento do papel do STJ e do Supremo está chegando a um ponto em que será preciso pensar em novos perfis adequados para estes dois tribunais.
ConJur — Esse desvirtuamento justifica o que se chama de jurisprudência defensiva? Explica o maior rigor na admissibilidade de recursos?Salomão — Infelizmente, sim. Sobretudo nos tribunais superiores, mas o desvirtuamento é tamanho que ela está se espalhando para os tribunais locais também. O volume está crescendo vertiginosamente, especialmente no caso das chamadas demandas de massa. Então, a jurisprudência defensiva é uma deformação do sistema anárquico de recursos. A solução para isso é que o STJ adote, à semelhança da repercussão geral para o Supremo, a relevância da questão federal. Tecnicamente não há outra saída.
ConJur — O respeito à súmulas não seria um bom começo? As súmulas do STJ têm sido seguidas pelas instâncias inferiores?Salomão — As súmulas são instrumentos poderosíssimos de segurança jurídica e têm o respeito da comunidade jurídica e dos tribunais. Mas venho notando que há uma gama tão grande de assuntos novos no campo do Direito Privado e uma multiplicidade e variação do mesmo tema que hoje as súmulas já não têm mais a precisão que tinham no passado. A sociedade mudou, os negócios jurídicos mudaram e os temas têm variados perfis. Logo, as súmulas também sofrem do problema da interpretação. Tornou-se muito difícil a redação de uma súmula prever tantas variações que decorrem de determinado tema. Como disse, a súmula é um instrumento poderoso, mas que também precisa ser adequado aos tempos atuais.
ConJur — Como?Salomão — Com subvariações de uma mesma súmula, com a diversificação do catálogo de súmulas. Na Comissão de Jurisprudência do STJ, que eu integro, sugeri que as súmulas que decorrem de julgamentos de recursos repetitivos sejam destacadas das demais súmulas. O ideal seria criar numeração nova para estas súmulas, mas teríamos de renumerar todas as outras. O ideal, então, é que se dê destaque.
ConJur — Arbitragem, mediação e conciliação são formas efetivas para desafogar a Justiça? Qual será o foco da Comissão de Reforma da Lei de Arbitragem e Mediação do Senado, que o senhor presidirá?Salomão — O Senado me honrou com o convite para coordenar os trabalhos dessa comissão, que eu reputo importantíssima. Não porque a Lei da Arbitragem tenha algum problema. Ao contrário, necessita apenas de pequenas adequações e atualizações. A história da lei é uma história de sucesso. Há, porém, espaço para trabalhar a questão da mediação, que não está regulada, e outras modalidades de soluções alternativas de conflitos que não estão previstas na lei. É nesse campo que eu acredito que a comissão possa ter um forte trabalho. A comissão será instalada em breve e o que me animou a integrá-la foi justamente o olhar pelo ângulo do acesso à Justiça. Das soluções que podem ser criadas para que esse acesso seja efetivo, por meio do Judiciário ou não.
ConJur — O senhor falou há pouco sobre os pedidos de indenização por danos morais que acompanham grande parte das demandas no Direito Privado. Um dos problemas das indenizações, que persiste ao longo do tempo, são valores díspares para situações semelhantes. O Judiciário pode fixar teto de valores para indenização por danos morais?Salomão — Esse é um tema recorrente porque a lei deixou ao arbítrio do julgador a fixação do valor por dano moral. E é um tema relativamente novo, que veio com a Constituição de 1988. Antes não havia a possibilidade de condenação em dano material e dano moral. Então, o debate é recente. O modelo de defesa do consumidor também se modificou e amplificou muito. E um dos instrumentos desse modelo é a ação de indenização por dano moral para a satisfação do consumidor lesado. Fala-se muito hoje em indústria do dano moral. O Judiciário ainda é um observador desse fenômeno, e só mais recentemente é que o STJ vem definindo alguns parâmetros e regras, como, por exemplo, se a indenização por dano moral é para o núcleo familiar global ou para cada um dos familiares per si, em caso de vítima que vem a morrer. Outro exemplo é o teto máximo de 500 salários em caso de morte. Há ainda diversos outros pontos a serem tratados pela jurisprudência.
ConJur — Para fixar o valor da indenização por dano moral o juiz deve dar mais peso à condição financeira e social da vítima ou à condição do causador do dano?Salomão — Deve levar em conta as duas coisas, mais as circunstâncias do fato e todo o conjunto de provas que cerca aquele caso particular. Por isso, e só por isso, é que o legislador deixou ao arbítrio do juiz a fixação do valor. O ideal é ter parâmetros, mas isso também não pode ser tarifado pelo Judiciário. Não se podem impor limites que engessem o julgador.
ConJur — Não dá para criar uma tabela.Salomão —Exatamente. Mas o valor é, de certa forma, balizado para que o dano moral não surta o efeito contrário, de falir ou quebrar uma empresa, por exemplo. Porque aí você atinge uma coletividade, que são os empregados e credores daquela empresa, para satisfazer um só cidadão. É necessário buscar o ponto de equilíbrio, e evitar a denominada “jurisprudência lotérica”, ou seja, para um fato semelhante, indenizações díspares.
ConJur — Por falar em credores, a penhora online em dinheiro deve ser medida preferencial nas execuções?Salomão — Sem nenhuma dúvida. A penhora online trouxe um avanço enorme. Há alguns senões aqui e ali, mas são exceções que confirmam a regra de que ela acabou com aquela ideia de “ganha, mas não leva”. A penhora online reduziu substancialmente o que era um dos gargalos das execuções judiciais. O sujeito passava anos para obter um título judicial executivo e, depois que obtinha, já não conseguia fazê-lo valer porque o devedor já não tinha bens.
ConJur — Mas muitos advogados reclamam que as exceções não são tão excepcionais assim. Há histórias de juízes que mandam bloquear a conta de empresas por conta de valores muito inferiores aos que estão na conta.Salomão — Eu já peguei um ou outro excesso. Mas os excessos são combatidos pelos recursos. O que não pode é cercar demais, criar muita burocracia, porque há o risco de desvirtuar o instituto e favorecer o devedor. Aí será um tiro pela culatra.
ConJur — Como o senhor vê o ano de 2012 para o STJ?Salomão — Um ano bom apesar do volume imenso de trabalho. Nós tivemos questões relevantíssimas discutidas. Mas o que precisa ser urgentemente pensado é a questão da relevância, um filtro que seja efetivo para que o tribunal possa trabalhar melhor e julgar com mais acuidade as causas mais relevantes. Há alguns outros pontos que nós temos que efetivamente melhorar. Por exemplo, dar um tratamento mais adequado aos recursos repetitivos, estruturar melhor o setor de distribuição e classificação dos processos. Mas estas são medidas administrativas que vão ser adotadas com maior ou menor brevidade. O foco principal para que o STJ continue vocacionado a atender a cidadania é a relevância da questão federal (clique aqui para ler a Retrospectiva 2012 sobre o STJ escrita pelo ministro).
Disponível em: http://www.conjur.com.br/2013-jan-06/entrevista-luis-felipe-salomao-ministro-superior-tribunal-justica. Acesso em: 11 ago.2013.












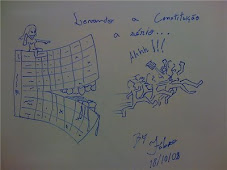


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seu comentário.
Responderei assim que possível.
Grata pela visita!