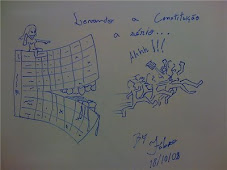A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 33 altera a quantidade mínima de votos de membros de tribunais para a declaração de inconstitucionalidade de leis; condiciona o efeito vinculante de súmulas aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) à aprovação pelo Poder Legislativo e submete ao Congresso Nacional a decisão sobre a inconstitucionalidade de Emendas à Constituição. Também estabelece que, caso o Congresso Nacional se manifeste contrariamente à decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, a controvérsia seja submetida à consulta popular.
Como encarar essa proposta de emenda à Constituição? Ela é reação vingativa do Poder Legislativo contra o Poder Judiciário ou mera disputa de poder entre os juízes e legisladores para definir quem tem a última palavra sobre o significado da Constituição? A PEC 33 pode abrir novas possibilidades na forma como se encara a separação entre os poderes e a forma de cada um exercer suas competências e funções?
A PEC 33 pode representar a possibilidade de se estabelecer uma reflexão mais profunda e também mais profícua sobre a separação entre os poderes e como deve se dar a interação entre eles, especialmente quando essa relação envolve o significado, conteúdo e alcance dos direitos e deveres previstos pela Constituição de 1988.
Nesse sentido, ao se afirmar que ao Supremo Tribunal Federal (STF) cabe a defesa da Constituição e daí se concluir que só ele, e apenas ele, pode definir qual é o significado da Constituição tem-se uma compreensão limitada, desprovida de justificação, conteúdo e legitimidade. Se é certo que o constituinte definiu no art. 102 da Constituição da República que ao STF cabe a guarda da Constituição, o significado dessa norma não é dado como a leitura mais apressada ou mais ingênua quer fazer crer. Ao contrário, o conteúdo e alcance dessa norma deve ser construído, definido pelo intérprete. O STF ao interpretar esse seu dever previsto pela Constituição estabeleceu que ele, como guardião da Constituição, é quem detém a última palavra sobre a interpretação da Constituição. Vale aqui a seguinte pergunta: por que razão é o STF o intérprete privilegiado da Constituição e sua palavra, terminal, em relação ao que quer dizer a Constituição?
Há, assim, uma supremacia do órgão judicial (o STF) em relação à interpretação da Constituição. Contudo, do ponto de vista democrático e deliberativo sobram motivos para não naturalizar essa atividade como absoluta e exclusiva do STF, bem como para criticá-la. Essa postura da supremacia judicial não fomenta uma ação conjunta, coordenada e colaborativa entre os Poderes na definição do que é a Constituição e dela resulta uma disputa (e não um diálogo) entre os poderes sobre quem então deve ter a última palavra. Assim, ao invés dos poderes buscarem de forma dialógica e colaborativa a melhor resposta sobre o significado da Constituição, eles passam a disputá-la, não importando se a resposta será boa ou ruim; se protegerá ou não nossos direitos fundamentais.
O que queremos, portanto, sublinhar e defender nesta brevíssima análise é a possibilidade de a PEC 33 ser compreendida como uma tentativa de se estabelecer um verdadeiro diálogo institucional entre os poderes, bem como de devolver ao povo a decisão final sobre o significado da Constituição quando não houver entendimento entre o Judiciário e o Legislativo sobre uma determinada controvérsia constitucional. Ao contrário de leituras precipitadas e levianas, as quais endeusam o Judiciário e demonizam o Legislativo (ou vice e versa), entendemos que um tal arranjo pode servir para melhorar não só as relações entre os poderes, mas também no interior dos próprios poderes e, sobretudo, responder a pergunta sobre quem e o que deve se beneficiar com a separação de poderes, isto é, o povo e, consequentemente, a concretização de seus direitos fundamentais.
Outro ponto importante a ser considerado é que a PEC 33 prevê a solução da controvérsia mediante consulta popular, a qual, em geral, é realizada por meio de plebiscito. No entanto, é preciso ressalvar que o plebiscito a ser realizado deve oportunizar um debate coletivo, nacional, entre os cidadãos, para que a resposta a ser dada pelo povo seja fruto de uma discussão, deliberação, ampla, pública, robusta e não a mera constatação de posições individuais.
Diante disso, por um lado, a PEC 33 pode promover esse debate ausente sobre como se deve encarar a separação entre os poderes no Brasil, sobre as formas de atuação e interação dos poderes no exercício de suas funções e competências, especialmente sobre a interpretação e significado da Constituição. Por outro lado, e é importante que se afirme, o que não é digno de consideração é o uso da PEC 33 como raivosa reação do Congresso Nacional às atuações do STF ou como mera resposta revanchista que busca mitigar o papel do STF na interpretação da Constituição. Nesse caso, ela se apresenta como uma proposta não apenas injustificada, mas também demagógica.
A forma como os poderes e a sociedade brasileira irão lidar com a PEC 33 – como mera disputa por poder entre o Legislativo e o Judiciário ou como possibilidade de se repensar a forma de atuação e interação entre os poderes – será reveladora do compromisso que ambos têm (ou não) com o seu conteúdo, isto é, com a realização de um constitucionalismo e de uma democracia genuínos.
Miguel Gualano de Godoy, mestre e doutorando em Direito Constitucional, é pesquisador do Núcleo de Pesquisa Constitucionalismo e Democracia (UFPR). Vera Karam de Chueiri, vice-diretora da Faculdade de Direito da UFPR, é coordenadora do Núcleo de Pesquisa Constitucionalismo e Democracia (UFPR).
Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/justica-direito/artigos/conteudo.phtml?tl=1&id=1370813&tit=Quem-detem-a-ultima-palavra-sobre-o-significado-da-Constituição. Acesso em: 26 mai.2013.
Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/justica-direito/artigos/conteudo.phtml?tl=1&id=1370813&tit=Quem-detem-a-ultima-palavra-sobre-o-significado-da-Constituição. Acesso em: 26 mai.2013.