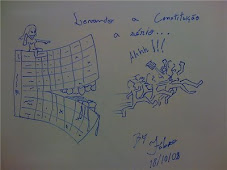Não parece razoável que tenha sido um desejo do legislador constituinte
impedir que o Ministério Público fosse proibido de conduzir inquéritos
criminais.
O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, na manhã de hoje, importante
discussão a respeito dos limites do poder de investigação do Ministério Público
(MP). Dois processos sobre o tema estão na pauta da sessão plenária – o Recurso
Extraordinário 593727 e o Habeas Corpus 84548. Esse último foi impetrado pela
defesa do empresário Sérgio Gomes da Silva, o “Sombra”, acusado de ser o
mandante da morte do ex-prefeito de Santo André (SP) Celso Daniel, em 2002.
Na semana passada, antes de o STF decidir analisar os dois recursos
conjuntamente, os ministros Cezar Peluso e Ricardo Lewandowski votaram contra o
poder investigatório do MP no julgamento do recurso extraordinário. Embora
Peluso e Lewandowski tenham entendido que, ao conduzir investigações criminais,
o Ministério Público estaria avançando sobre a competência das polícias, e
violando a Constituição Federal, há fundamentos fortes e razoáveis que permitem
concluir em direção oposta.
Não há proibição constitucional para que o MP possa conduzir investigações
penais. A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 129, que são funções do
Ministério Público promover privativamente a ação penal pública, na forma da
lei, bem como requisitar diligências investigatórias e a instauração de
inquérito policial. Além de não haver proibição expressa, o mesmo artigo do
texto constitucional abre a possibilidade de o MP “exercer outras funções que
lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada
a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas”.
Além disso, a Constituição Federal não estabelece como privativa da polícia a
competência investigatória, pois o artigo 58, em seu parágrafo 3.º, estabelece
que as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais, para que promovam a responsabilidade civil
ou criminal dos investigados. Portanto, a Constituição não proíbe o MP de
conduzir investigações e ainda estabelece que é possível exercer tal função,
pois ela é “compatível com sua finalidade”; além disso, não apresenta a
competência investigatória como privativa da polícia.
O texto constitucional também não estabelece, no âmbito da produção dos
elementos de acusação, a necessidade de separação entre o órgão investigador e o
órgão propositor da ação penal. O que não permite é que um mesmo órgão seja
responsável pela investigação e julgamento. Não parece razoável que tenha sido
um desejo do legislador constituinte impedir que o MP fosse proibido de conduzir
inquéritos criminais.
As atribuições estabelecidas para a polícia e para o MP na Constituição
tratam da habitual distribuição de tarefas. Seria contraproducente que o
constituinte concedesse somente à polícia a função investigatória, pois
limitaria sem razão o poder estatal de punir o cometimento de crimes. A
existência de diversos órgãos fiscalizadores – como MP e a Receita Federal,
entre outros – permite evitar que crimes complexos, especialmente os ligados à
corrupção e enriquecimento ilícito, sejam praticados impunemente.
É de se ressaltar que, quando se trata de crimes de colarinho-branco, o MP
tem mostrado maior capacidade técnica e operacional para conduzir investigações,
sem que isso represente qualquer demérito para a atividade realizada pela
polícia. Esse modelo é, inclusive, adotado por países como Alemanha, França e
Espanha. Não foi por outra razão que o Brasil já assinou diversas convenções que
estabelecem a necessidade de ampla participação investigatória do MP, incluindo
as convenções de Palermo (combate ao crime organizado), de Mérida (corrupção) e
das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional.
Todos os fatores já analisados permitem concluir que o poder de investigação
do MP não é inconstitucional e precisa ser mantido. Caso o STF decida, na sessão
plenária de hoje, pela impossibilidade de o MP conduzir investigações penais sem
participação de autoridade policial, a sociedade perderá um importante aliado no
combate à criminalidade e à corrupção.
Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo.phtml?tl=1&id=1269320&tit=O-poder-de-investigacao-do-MP. Acesso em: 27 jun. 2012.