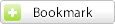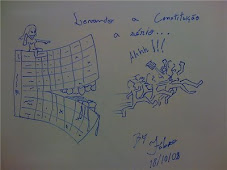Este texto sobre o Direito Constitucional faz parte da Retrospectiva 2010, série de artigos sobre os principais fatos nas diferentes áreas do Direito e esferas da Justiça ocorridos no ano que termina.
Introdução
A resenha que se segue está dividida em duas partes. Na Parte I, faz-se a retrospectiva de alguns fatos relevantes, bem como o levantamento e a análise crítica de algumas das principais decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) no período. Foi escrita em colaboração com Eduardo Mendonça, mestre e doutorando pela Universidade do Estado do Rio de Janerio (UERJ). Na Parte II, procede-se a uma apreciação dos métodos de deliberação do STF para, ao final, apresentarem-se duas sugestões de mudança. Para essa segunda parte, contei com a colaboração de Patrícia Perrone Campos Mello, igualmente mestre e doutoranda pela UERJ.
Parte I
Fatos e decisões relevantes
Luís Roberto Barroso
Eduardo Mendonça[2]
Judicialização do Processo Eleitoral
O processo eleitoral dominou a agenda política de 2010. Junto com ele, ora como coadjuvante, ora como protagonista, esteve o Poder Judiciário. Em um ano no qual foi necessário declarar a constitucionalidade do humor, repetiu-se a história recente: algumas das controvérsias jurídicas e morais mais importantes tiveram seu capítulo final no Supremo Tribunal Federal. Nas primeiras resenhas que escrevi para o ConJur, lá se vão alguns anos, a judicialização da vida era tratada como um fenômeno novo, que causava certo espanto a muitos observadores. Pois já não é assim. A presença de juízes e tribunais nas manchetes jornalísticas incorporou-se à rotina da democracia brasileira. Há aspectos típicos e atípicos nessa expansão judicial, que tem sido objeto de vasta literatura nacional e internacional[3].
Um outro aspecto dessa realidade, menos explorado, envolve a percepção de que os atores políticos passaram a organizar suas disputas (também) em torno de categorias jurídicas, valendo-se da linguagem do Direito e dos direitos em seu próprio discurso. Esse é um bom indício de que a sociedade começa a incorporar ao seu imaginário uma dose de sentimento constitucional genuíno e preocupações com a legalidade. É bom que seja assim. A Constituição de 1988, com todas as suas circunstâncias, contém um bom projeto de país nos seus valores e nos seus propósitos. É fora de dúvida, no entanto, que ainda enfrentamos disfunções atávicas, como o patrimonialismo, o oficialismo e certa escassez de virtudes republicanas. Mas a demanda por mais legitimidade democrática e por melhor administração pública tem aumentado significativamente. E já há vitórias a celebrar: as crises políticas têm sido enfrentadas dentro da ordem institucional em vigor e com a participação do Judiciário. Já ninguém pensa em chamar as tropas.
Nos dois tópicos que se seguem, faz-se um breve levantamento de fatos relevantes ocorridos no âmbito do direito constitucional, bem como uma seleção de alguns casos emblemáticos julgados nesse ano judiciário. Um observador atento notará um Supremo Tribunal Federal que alterna momentos de maior intervenção na vida política com outros de mais autocontenção. Como é próprio, aliás, de um tribunal constitucional. A vida é feita de prudências e ousadias. A ênfase em uma ou outra compõe a complexa e dinâmica equação de poder no constitucionalismo democrático, que procura conciliar soberania popular — isto é, vontade das maiorias — com limitação do poder, vale dizer, respeito aos direitos fundamentais e à legalidade.
Alguns fatos dignos de nota
1. Emendas constitucionais aprovadas em 2010
Quatro emendas constitucionais foram aprovadas em 2010 (63 a 66). Passa-se a um breve comentário sobre cada uma delas. A Emenda Constitucional 63, de 4 de fevereiro de 2010, alterou o parágrafo 5º do artigo 198, que já impunha ao legislador federal o dever de editar lei dispondo sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Pela nova redação, a lei deverá estabelecer um plano de carreira e um piso salarial nacional, impondo-se a União o dever de prestar assistência financeira aos demais entes para que este possa ser cumprido.
A Emenda Constitucional 64, de 4 de fevereiro de 2010, alterou o artigo 6º, explicitando o direito social fundamental à alimentação. Embora se possa dizer que tal conteúdo já estaria implícito no direito à saúde e no próprio princípio da dignidade da pessoa humana — constituindo uma das prestações mais elementares do chamado mínimo existencial —, a menção expressa tem valia simbólica. A Emenda Constitucional 65, de 13 de julho de 2010, alterou a denominação do Título VII, da Constituição, que passou a mencionar, de forma específica, o jovem. Do ponto de vista (pouco mais) substancial, foi acrescentado um parágrafo 8º ao artigo 227, determinando ao legislador que edite: (i) o estatuto da juventude, destinado a regular direitos específicos desse segmento da população; e (ii) o plano nacional de juventude, de duração decenal, cuja função seria articular os diversos níveis do Poder Público para a execução de políticas públicas.
Por fim, a Emenda Constitucional 66, de 13 de julho de 2010, alterou o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição, que dispõe sobre o divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de um ano ou de comprovada separação de fato por mais de dois anos. A alteração merece destaque, do ponto de vista teórico, por afastar o viés claramente paternalista do texto original. Embora o Poder Público possa adotar medidas razoáveis para estimular ou desestimular determinados comportamentos, tendo em vista a promoção de valores ou interesses sociais, tais restrições nunca serão banais, exigindo justificação consistente, baseada em argumentos de razão pública[4].
Essa ressalva ganha ainda mais força em se tratando de questões existenciais, como as que envolvam o estabelecimento, manutenção e dissolução de vínculos conjugais. No plano moral, certamente é possível sustentar a posição de que o casamento e as demais formas de união civil não devem ser banalizadas, sendo recomendável que os casais reflitam cuidadosamente antes de assumir vínculos e, uma vez que os tenham assumido, busquem superar suas eventuais diferenças. No entanto, não parece legítimo que o Estado imponha essa ou qualquer outra visão acerca do tema, forçando duas pessoas a permanecerem formalmente casadas por qualquer período que seja.
2. Súmulas Vinculantes aprovadas em 2010
O STF editou três novas Súmulas Vinculantes em 2010. São elas: Súmula Vinculante 28: “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário”; Súmula Vinculante 29: “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”; e Súmula Vinculante 31: “É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza — ISS sobre operações de locação de bens móveis”.
O tribunal chegou a aprovar uma quarta Súmula Vinculante, de número 30[5], que assentava a inconstitucionalidade de leis estaduais que, ao conceder incentivos fiscais, promovam a retenção da parcela de arrecadação a que os Municípios façam jus. A publicação dessa Súmula foi suspensa para maior reflexão da Corte por sugestão do ministro Dias Toffoli, que identificou precedentes envolvendo situação um pouco diversa, mas que mereceria tratamento similar. Trata-se das hipóteses em que o Estado admite o pagamento do tributo por meio da dação de bens em pagamento, sem que reparta essa forma de arrecadação com os municípios.
3. A mudança na Presidência do Supremo Tribunal Federal
A posse do ministro Cezar Peluso na presidência do STF trouxe, como previsível, uma mudança de estilo. Seu antecessor, ministro Gilmar Mendes, cultivou o hábito de pronunciamentos rotineiros à imprensa, nos quais comentava não apenas questões afetas à Corte, como também temas políticos e atualidades em geral. Sob críticas e aplausos, conforme a visão de cada um, introduziu um certo ativismo extrajudicial, que não tinha precedente. O ministro Cezar Peluso, magistrado de carreira, segue uma tradição de maior discrição, em que o juiz fala, como regra, nos autos do processo. Sua ênfase tem sido em questões internas do Judiciário e na defesa do padrão de remuneração da magistratura e dos servidores do Judiciário, o que fez de maneira desassombrada e enfrentando as críticas previsíveis. Há menos de um ano no cargo, ainda não é o caso de um balanço mais abrangente.
Alguns destaques na jurisprudência constitucional de 2010
1. Manutenção da Lei de Anistia (ADPF 153/DF, Rel. Min. Eros Grau, DJe 06 ago. 2010)
A ADPF 153, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pretendia: (i) atribuir à Lei 6.683/79 (Lei da Anistia) interpretação conforme a Constituição para declarar que a anistia concedida aos crimes políticos ou conexos praticados durante o regime militar não se estenderia aos crimes comuns praticados pelos agentes da repressão contra opositores políticos; ou (ii) que fosse declarado que a Lei da Anistia não teria sido recepcionada pela Constituição de 1988. O fundamento dos pedidos era o de que a anistia irrestrita aos agentes do Estado teria violado inúmeros preceitos fundamentais. Duas alegações merecem destaque especial.
Em primeiro lugar, o requerente sustentou a ocorrência de ofensa ao artigo 5º, XXXIII, que contempla o direito fundamental a receber informações de interesse público e particular dos órgãos públicos. Por esse argumento, a anistia concedida a pessoas indeterminadas teria impedido ou dificultado o acesso à verdade. Em segundo lugar, a dignidade das vítimas e do povo brasileiro em geral teria sido usada como moeda de troca em uma transação política, negociando-se a impunidade dos criminosos de Estado pela transição ao Estado democrático de direito. Ambos os fundamentos foram rejeitados por maioria de votos, vencidos os ministros Carlos Britto — que concedia interpretação conforme a lei para exigir que o Judiciário fizesse uma análise caso a caso —, e Ricardo Lewandowski, que afastava a incidência da lei em relação aos crimes de tortura.
A maioria foi liderada pelo voto do relator, ministro Eros Grau, que destacou a natureza política do compromisso consubstanciado na Lei de Anistia, firmado pelas forças políticas então atuantes para tornar possível a redemocratização. Não caberia ao STF modificar as bases desse compromisso para, reduzindo o alcance expresso da anistia concedida, excluir da sua incidência os crimes comuns praticados sob motivação política. O reconhecimento dessa realidade histórica não importaria transação com o princípio da dignidade humana, tampouco seria incompatível com o repúdio à tortura e às demais formas de tratamento degradante. Prevaleceu, igualmente, o entendimento de que não haveria barreira intransponível ao conhecimento da verdade, cabendo ao Estado fornecer as informações pertinentes ao período.
Na vida existem missões de justiça e missões de paz. O STF optou pela segunda. Como é natural, essa decisão não impede a eventual responsabilização do Estado brasileiro no plano internacional. Em decisão proferida em 14 de dezembro de 2010, a Corte Interamericana de Direito Humanos condenou o Brasil pelo desaparecimento de 62 pessoas na região do Araguaia, entre 1972 e 1974. A Corte considerou que as disposições da Lei da Anistia que impedem a apuração e julgamento desses fatos seriam incompatíveis com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos[6].
2. Aplicabilidade imediata da “Lei da Ficha Limpa" (RE 631.102/PA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 9 nov. 2010)
No caso mais polêmico de 2010, o STF acabou por considerar constitucional e passível de aplicação imediata a Lei Complementar 135/2010, que introduziu novas hipóteses de inelegibilidade. A chamada Lei da Ficha Limpa, dotada de respaldo social maciço, originou-se de iniciativa popular capitaneada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Como era de se esperar, candidatos afetados pelas novas regras foram à Justiça Eleitoral questionar a própria validade da lei e/ou sua aplicabilidade já às Eleições de 2010, sob dois fundamentos principais: (i) a nova lei atribuiria consequências jurídicas negativas a fatos ocorridos antes da sua edição, constituindo hipótese inconstitucional de retroatividade; e (ii) a lei violaria de forma direta o art. 16 da Constituição, que impede à modificação das regras eleitorais há menos de um ano das eleições.
Em decisão majoritária, o Tribunal Superior Eleitoral considerou a lei válida e desde logo aplicável, entendendo que as regras de inelegibilidade não fariam parte do processo eleitoral propriamente dito, mas sim de uma etapa preparatória logicamente anterior. O TSE afirmou, ainda, que não haveria retroação no ato de se aplicar de forma imediata as novas regras de inelegibilidade, não existindo, por parte dos candidatos, qualquer direito adquirido à condição de elegibilidade que porventura ostentassem antes do advento da LC 135/2010. Contra essa decisão, foram interpostos diversos recursos extraordinários, tendo o STF reconhecido a repercussão geral da questão constitucional em debate[7].
Ao apreciar a questão, num julgamento marcado por longo e acirrado debate, o STF se dividiu em dois blocos. O primeiro — formado pelo relator, ministro Carlos Britto, e pelos ministros Ricardo Lewandowski, Ellen Gracie, Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia — sustentou a validade e a aplicabilidade imediata da lei, confirmando o acórdão do TSE. Em sentido contrário, entendendo que a lei somente poderia ser aplicada a partir das próximas eleições, votaram os ministros Cezar Peluso, Marco Aurélio, Celso de Mello, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Configurado o empate, o tribunal passou a um longo debate acerca da fórmula adequada para a resolução do impasse. Após ser descartada a atribuição de um segundo voto ao presidente da Corte — medida prevista no artigo 13, IX, do Regimento Interno[8], de constitucionalidade duvidosa — decidiu-se pela manutenção da decisão proferida pelo TSE, que reconhecera a aplicabilidade imediata da Lei da Ficha Limpa.
Tal solução, adotada por uma Corte dividida, naquela situação, de forma irreconciliável, justifica um comentário à parte. Uma vez mais o STF foi chamado a proferir a palavra final em uma questão política de importância capital. De certa forma, é possível dizer que o tribunal testou e confirmou seu próprio prestígio, uma vez que sequer foi cogitada a possibilidade de se desrespeitar ou contornar a decisão da Corte, mesmo quando pareceu bastante palpável a hipótese de se decidir pela não-aplicabilidade da lei, contrariando o sentimento social mais do que dominante. É bom que seja assim.
A jurisdição constitucional cresce em importância justamente nos momentos em que é necessário contrariar as maiorias em nome dos valores fundamentais de uma dada sociedade ou mesmo do processo civilizatório. O equilíbrio entre o devido respeito à política majoritária e a preservação de tais valores é tênue e sujeito à possibilidade permanente de revisão. A interpretação jurídica produz algumas certezas positivas, outras negativas, e muitas zonas cinzentas. Um Tribunal Constitucional deve lutar pelas certezas — que serão, naturalmente, as suas certezas — e saber escolher os cinzas certos. Em muitos casos, porém, deverá reconhecer a hora de permitir que a sociedade escolha o seu próprio caminho razoável. Como regra — e seria possível cogitar inúmeras exceções mais do que defensáveis — uma Corte dividida deve pensar duas vezes antes de sobrepor o seu juízo a uma decisão emanada do processo político.
3. Possibilidade de se decretar a prisão preventiva de Governador de Estado (HC 102.732/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 7 mai. 2010)
Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal manteve a prisão preventiva do governador do Distrito Federal, decretada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o fundamento de que o Chefe do Executivo estaria interferindo na investigação criminal que se encontrava em curso. O precedente merece destaque tanto por sua enorme repercussão política, quanto por ter servido para que o STF reafirmasse, agora em concreto, o caráter excepcional das regras constitucionais que estabelecem a irresponsabilidade penal relativa do Presidente da República (art. 86, § 4º) e sua imunidade contra a prisão (art. 86, § 3º). No entendimento da Corte, inicialmente veiculado no julgamento da ADI 1.020/DF, tais previsões encontram-se em tensão permanente com o princípio republicano e, por isso mesmo, devem receber interpretação restrita, não sendo extensíveis aos governadores.
Vale a ressalva, porém, de que ainda subsiste formalmente, na jurisprudência do STF, o entendimento de que as Constituições estaduais podem condicionar o recebimento de denúncia contra o governador à autorização da Assembleia Legislativa, de forma simétrica ao que dispõe o artigo 51, I, da Constituição Federal[9]. Um dos argumentos sustentados pela defesa do então governador José Roberto Arruda foi o da incompatibilidade entre este entendimento e a possibilidade de prisão preventiva, que seria um minus em relação ao recebimento de denúncia e a consequente instauração de processo criminal. Ainda que não haja uma contradição formal entre as duas situações — que envolvem a interpretação de dispositivos distintos —, é fora de dúvida que elas não convivem bem. O Supremo terá a oportunidade de analisar o tema e, se for o caso, rever sua jurisprudência, em duas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas pelo Procurador-Geral da República[10].
4. Pedido de intervenção no Distrito Federal (IF 5.179/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 8 out. 2010)
Trata-se de precedente que merece destaque pela repercussão política e por seu desfecho, que confirmou a excepcionalidade da intervenção federal. A crise política que levou à prisão preventiva do governador do Distrito Federal tornou-se ainda mais grave quando veio à tona o possível envolvimento de inúmeros deputados distritais. Criou-se, assim, um impasse no processo de responsabilização política do Chefe do Poder Executivo, que deveria se desenrolar perante a Casa Legislativa. Diante desse quadro, o Procurador-Geral da República ingressou com ação direta interventiva por alegada violação aos princípios republicano e democrático, bem como ao sistema representativo.
No momento em que foi proposta, a ação parecia fadada à procedência, com todas as implicações negativas associadas a uma intervenção federal plena, com afastamento dos Poderes constituídos. A primeira sob a Constituição de 1988[11]. No entanto, em um exercício de sensibilidade política e autocontenção, o STF aguardou os desdobramentos naturais da crise, que já chegara a um ponto de ruptura espontânea. Com a renúncia do Governador, o próprio sistema político se reorganizou e assumiu um compromisso de reconstrução de sua legitimidade democrática. Nesse novo contexto, a Corte, por maioria, entendeu que a medida drástica da intervenção federal seria agora inadmissível, uma vez que os diversos Poderes e instituições públicas competentes teriam desencadeado, no desempenho de suas atribuições constitucionais, ações adequadas para restabelecer a normalidade institucional.
5. Humor e liberdade de imprensa (ADI 4.451/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 13 set. 2010)
O STF referendou medida cautelar concedida pelo ministro Carlos Britto[12], que havia suspendido a eficácia de dispositivos da Lei 9.504/97[13], os quais impunham restrições às emissoras de rádio e televisão quanto à divulgação de charges, sátiras ou outras formas similares de expressão humorística tendo por objeto candidatos, partidos ou coligações políticas. O Tribunal entendeu que o humor – ainda quando seja ácido ou até de mau gosto – constitui uma forma legítima de expressão e de informação, protegida pelos artigos 5º, IV, IX e XIV, bem como pelo artigo 220, da Constituição de 1988. A decisão vem se somar a uma consistente linha jurisprudencial do STF em favor da ampla liberdade de expressão e, com especial destaque, de imprensa[14].
6. Quebra de sigilo bancário por requisição direta da Receita Federal (AC 33/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 2 dez. 2010)
Ao contrário da liberdade de expressão, os limites da privacidade em face do próprio Estado ainda se encontram em fase de definição. Na sessão de 24 de novembro de 2010, o tribunal negou referendo a uma medida liminar concedida, em 2003, pelo ministro Marco Aurélio, a qual suspendera a aplicação de dispositivos da Lei Complementar nº 105/2001 que conferem à Receita Federal a prerrogativa de requisitar informações protegidas pelo sigilo bancário diretamente às instituições financeiras, afastando a necessidade de autorização judicial. A posição majoritária, à qual aderiram cinco ministros, foi no sentido de que a hipótese não constituiria quebra de sigilo, uma vez que as informações teriam de ser preservadas pela própria Receita, vedando-se sua divulgação pública.
No julgamento definitivo da questão, em 15 de dezembro de 2010, o ministro Gilmar Mendes manifestou sua mudança de entendimento, alinhando-se à posição defendida pelos ministros Marco Aurélio, Cezar Peluso, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Inverteu-se, assim, a maioria verificada no julgamento anterior. Com o respeito devido e merecido aos ministros que sustentaram a posição minoritária, a decisão final adotou a leitura adequada do instituto do sigilo de dados, que se insere no rol de garantias constitucionais à privacidade. Com efeito, não parece razoável a premissa de que não há direito a sigilo em face do próprio Estado, como se este tivesse a prerrogativa de exercer uma supervisão constante da vida privada.
Na verdade, a experiência histórica — remota e recentíssima — demonstra que muitas vezes é o próprio Poder Público que invade o espaço reservado à vida privada, por fundamentos os mais diversos. Mesmo quando estes sejam legítimos, como o interesse em se evitar a sonegação ou outros desvios, é preciso manter salvaguardas. A limitação ao poder do Estado para proteger direitos fundamentais é, precisamente, o objetivo central do constitucionalismo. Não fica de pé, portanto, a ideia — típica de um Estado policial — de que o acesso às informações por parte de órgãos públicos não constituiria quebra de sigilo.
No Brasil, sob a Constituição de 1988, tem prevalecido a compreensão de que a quebra dos sigilos depende, como regra geral, de decisão proferida pelo Poder Judiciário, devidamente motivada. Impede-se, assim, a banalização das devassas à vida privada, uma vez que a autoridade interessada na obtenção dos dados passa a ter o dever de demonstrar, para um julgador imparcial, os indícios de anormalidade que justificam a restrição ao direito fundamental ao sigilo[15]. Ao confirmar essa orientação — ainda que de forma oscilante —, o STF manteve essa lógica e impediu que a quebra de sigilo fosse convertida em medida cotidiana da administração tributária.
Parte II
Modelo decisório do Supremo Tribunal Federal e duas sugestões de mudança
Luís Roberto Barroso
Patrícia Perrone Campos Mello[16]
Deliberação e processo decisório
O Poder Judiciário, na maior parte das democracias do mundo, desempenha um papel assemelhado. A função jurisdicional consiste na interpretação e aplicação do Direito vigente para o fim de solucionar litígios. Em alguns países, dentre os quais o Brasil, admitem-se algumas hipóteses em que a jurisdição é exercida fora de situações concretas de conflito, como ocorre nas ações diretas de controle abstrato da constitucionalidade das leis. Como regra, o primeiro grau de jurisdição é exercido por um juiz singular, ao passo que as instâncias recursais são compostas por órgãos colegiados. A uniformidade, todavia, costuma terminar aí. Pelo mundo afora, varia de maneira significativa, no âmbito dos tribunais, o modo de interação entre seus membros e de produção de soluções. Existem diferentes modelos de deliberação — interno e externo — e de construção da decisão final — agregativo e deliberativo.
O modelo de decisão interna, de inspiração europeia, caracteriza-se pela natureza reservada da deliberação, em que não há acesso dos advogados, das partes ou do público em geral à discussão travada entre os membros do órgão judicial. A solução para o caso em julgamento é produzida inteiramente a portas fechadas. A argumentação dos juízes se dá no interior das cortes e seus entendimentos individuais não são expostos ao público. Nos tribunais que seguem este modelo, os principais interlocutores de cada magistrado são os outros magistrados. Raramente há audiências públicas e sustentações orais. Em alguns casos, não há sequer a possibilidade de publicar votos divergentes. As cortes se manifestam como instituição, por meio de decisões únicas, que correspondem ao consenso alcançado após o debate entre seus membros. Acredita-se que o modelo de decisão interna constitui um facilitador da interação e do debate entre os juízes. A não exposição de suas discussões ao público tornaria mais viáveis concessões recíprocas e eventuais mudanças de opinião para a construção de um entendimento comum. Por outro lado, afirma-se, a relação com a sociedade e a possibilidade de controle social ficam reduzidos.
No modelo de decisão externa, de influência norte-americana, parte das discussões é feita de maneira pública. No caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, além da sustentação oral, é possível a arguição dos advogados pelos juízes. Ao final dos debates, há uma conferência interna. Mas cada Justice pode produzir o seu próprio voto ou aderir à posição de outro. É comum a elaboração de votos dissidentes. Nesse arranjo institucional, os juízes, por certo, mantêm uma interlocução entre si; mas, muito frequentemente, eles se dirigem, mesmo, é ao público externo, mandando sua mensagem para a sociedade, os atores políticos, a imprensa e grupos de interesse. Afirma-se que esse segundo modelo tem a virtude de estabelecer um diálogo entre o Judiciário e a sociedade. Por outro lado, a maior exposição dos membros do tribunal à opinião pública dificultaria concessões e mudanças de entendimento, funcionando como um inibidor do poder persuasivo da argumentação. Além disso, não é incomum que a apresentação de votos com razões de decidir distintas prejudique a compreensão do real sentido e alcance do julgado, trazendo dificuldades práticas supervenientes.
O processo decisório, por sua vez, poderá ser deliberativo ou agregativo. O método deliberativo caracteriza-se pela construção conjunta do argumento, mediante prática discursiva que facilite concessões recíprocas entre os julgadores e a produção de consenso. É a fórmula usual no modelo de decisão interna. No método agregativo, diferentemente, a decisão será o produto do somatório de votos individuais, cabendo ao observador interpretar qual foi o entendimento colegiado do tribunal, como geralmente ocorre no modelo de decisão externa. Como intuitivo, essas divisões esquemáticas rígidas têm fim didático e ajudam a visualizar opções institucionais contrapostas. No mundo real, porém, os tribunais combinam características de ambos os modelos.
O modelo decisório do Supremo Tribunal Federal. Problemas e sugestões para sua resolução
Dentre as cortes constitucionais do mundo, é provável que o Supremo Tribunal Federal brasileiro seja o que pratica de forma mais radical o modelo externo e agregativo. De fato, os debates travados pelos ministros são não apenas abertos ao público como amplamente divulgados, inclusive por via da televisão aberta. Por outro lado, a apresentação dos votos individuais, sem qualquer conferência interna prévia, constitui a regra geral. Assim, os julgados da Corte não são veiculados mediante uma decisão unitária, consensual, consistindo na soma de manifestações particulares. Pois bem: o modelo de deliberação pública e votos individuais tem muitas virtudes, inclusive as da transparência, mobilização da sociedade e controle social. Mas precisa ser aperfeiçoado, em nome da clareza e da racionalização dos trabalhos.
O primeiro grande problema a ser superado é que a tese jurídica afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, colegiadamente, como razão de decidir, é de difícil identificação em alguns casos. Isso ocorre porque, embora se forme uma maioria no que respeita ao desfecho da hipótese submetida à Corte, cada ministro externa seu próprio entendimento, nem sempre convergente, sobre os fundamentos que justificam tal desfecho. Além disso, as decisões proferidas pelo STF, por serem produto da soma dos votos individuais de seus integrantes, são frequentemente extensíssimas. Isso é especialmente verdadeiro no julgamento de casos de maior repercussão. Há uma opção maximalista que nem sempre é positiva. Em razão dessas especificidades, surge uma outra disfunção: a tendência a prevalecer o voto do relator como expressão da decisão alcançada pela Corte, mesmo quando não tenha havido adesão majoritária a pontos centrais nele expressos, gerando-se uma percepção distorcida do que foi efetivamente decidido. Por vezes acontece o contrário: do voto do relator deixa de constar algo que foi objeto de deliberação majoritária, mas que não correspondia à sua opinião. O ponto é especialmente sensível nos casos em que a decisão do Tribunal tenha eficácia vinculante, sendo necessário determinar exatamente o que deve ser observado pela Administração Pública e pelos demais órgãos do Poder Judiciário.
A primeira sugestão de mudança destina-se a enfrentar essas dificuldades. A providência alvitrada é bastante simples. Após os debates e a votação realizados em sessão pública, e sem prejuízo da apresentação dos votos individuais pelos ministros, o relator do caso deverá: i) redigir uma ementa representativa dos fundamentos e conclusões que obtiveram adesão da maioria; e ii) dela deverá constar a proposição ou tese jurídica que serviu como premissa necessária à decisão da Corte, à semelhança dos holdings do common law. Tal ementa, que poderá ser elaborada na sessão de julgamento ou posteriormente, deverá ser submetida à aprovação dos Ministros que votaram com a posição vencedora. Tomando-se como exemplo a ADPF 46, em que se discutiu a questão do chamado “monopólio postal”, a ementa diria algo assim: “O serviço postal tem natureza de serviço público e não de atividade econômica, sendo legítimo o regime de privilégio estabelecido pela lei em favor da ECT”. Essa é a sugestão, portanto, no que diz respeito à maior clareza do pronunciamento da Corte.
A segunda sugestão é voltada à maior racionalidade do processo deliberativo. Faria enorme diferença se o voto do relator — ou uma minuta dele — circulasse pelos ministros anteriormente à sessão. Isso permitiria que os julgadores que estivessem de acordo com ele, em sua integralidade, simplesmente aderissem. Ou agregassem apenas o que fosse diferente. Com isso, ficariam poupados do trabalho imenso — e desnecessário — de escrever um voto para, no fim, dizer a mesma coisa. Por outro lado, os que divergissem da posição do relator já poderiam comparecer à sessão com sua manifestação, tornando dispensável — ou, no mínimo, menos frequente — o pedido de vista para a elaboração de voto contrário. As sessões plenárias comportariam julgamento de um número maior de processos e os adiamentos decorrentes de vistas seriam reduzidos significativamente.
O Supremo Tribunal Federal, que se tornou um dos protagonistas da democracia brasileira e que tem servido bem ao país, passa por um momento de transformações. A primeira delas está em curso: a redução drástica do número de processos, por meio de mecanismos de racionalização, como é a repercussão geral. A segunda virá com o tempo, com a progressiva percepção de que a leitura do voto em sessão deverá ser abreviada, limitando-se às ideias centrais. A terceira se contém nas propostas aqui compartilhadas: a minuta do voto do relator deverá circular previamente entre os ministros e a ementa do julgado deverá expressar objetivamente a tese jurídica vencedora, sendo submetida à aprovação da maioria que se formou.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Luís Roberto Barroso é professor titular de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e professor visitante da Universidade de Brasília (UnB), da Universidade de Poitiers (França) e da Universidade Wroclaw (Polônia). Mestre em Direito pela Yale Law School e doutor e livre-docente pela UERJ.[2] Mestre em Direito e Doutorando pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Autor do livro A Constitucionalização das Finaças Públicas no Brasil: Devido Processo Orçamentário e Democracia, 2010.
[3] Giselle Cittadino, “Judicialização da política, constitucionalismo democrático separação de Poderes”. In: Luiz Werneck Vianna (Org.). A Democracia e os três Poderes no Brasil, 2002; Luís Roberto Barroso, Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Revista de Direito do Estado 13:71, 2009, e Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil contemporâneo. Revista de Direito do Estado 16:3, 2010; e Oscar Vilhena Vieira, Supremocracia. In: Daniel Sarmento (coord.), Filosofia e teoria constitucional contemporânea, 2009, p. 483-502. Há inúmeros grupos de pesquisa em cursos de pós-graduação dedicados ao tema. V. Anais do I Forum de Grupos de Pesquisa em Direito Constitucional, 2009. No direito comparado, v., dentre muitos, Ran Hirschl, Towards juristocracy, 2007, e Alec Stone Sweet, Governing with judges – Constitutional politics in Europe, 2000.
[4] O uso da razão pública importa em afastar dogmas religiosos ou ideológicos – cuja validade é aceita apenas pelo grupo dos seus seguidores – e utilizar argumentos que sejam reconhecidos como legítimos por todos os grupos sociais dispostos a um debate franco, ainda que não concordem quanto ao resultado obtido em concreto. Ela consiste na busca de elementos constitucionais essenciais e em princípios consensuais de justiça, dentro de um ambiente de pluralismo político. Sobre o tema, v. Luís Roberto Barroso, Curso de direito constitucional contemporâneo – Os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo, 2009, p. 71.
[5] Súmula Vinculante nº 30: “É inconstitucional lei estadual que, a título de incentivo fiscal, retém parcela do ICMS pertencente aos municípios".
[6] Nos termos do comunicado divulgado pela própria Corte Interamericana: “Con base en el derecho internacional y en su jurisprudencia constante, la Corte Interamericana concluyó que las disposiciones de la Ley de Amnistía que impiden la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos son incompatibles con la Convención Americana y carecen de efectos jurídicos por lo que no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del caso ni para la identificación y el castigo de los responsables”.
[7] Como se sabe, o primeiro recurso a ser admitido para julgamento e que deveria servir, portanto, como paradigma, foi o do Ex-Governador do Distrito Federal Joaquim Roriz, que havia renunciado a um mandato de Senador em 2007, diante da iminência de responder a um processo de cassação. Posteriormente, tal recurso perdeu seu objeto em razão da desistência de Joaquim Roriz, que abdicou da candidatura em favor de sua esposa. De toda forma, O STF prosseguiu na análise da matéria no julgamento do recurso extraordinário interposto pelo Ex-Senador Jader Barbalho. A sequência de eventos processuais que levaram à perda de objeto do primeiro recurso e ao julgamento do segundo não apresenta maior relevância para a análise da questão constitucional relevante.
[8] RISTF, art. 13: São atribuições do Presidente: (…) proferir voto de qualidade nas decisões do Plenário, para as quais o Re- gimento Interno não preveja solução diversa, quando o empate na votação decorra de ausência de Ministro em virtude de: a) impedimento ou suspeição; b) vaga ou licença médica superior a 30 (trinta) dias, quando seja urgente a matéria e não se possa convocar o Ministro licenciado”.
[9] A título de exemplo, v. STF, DJe 2 set. 2005, HC 86.015/PB, Rel. Min. Sepúlveda Pertence: “Governador de Estado: processo por crime comum: competência originária do Superior Tribunal de Justiça que não implica a inconstitucionalidade da exigência pela Constituição Estadual da autorização prévia da Assembléia Legislativa. 1. A transferência para o STJ da competência originária para o processo por crime comum contra os Governadores, ao invés de elidi-la, reforça a constitucionalidade da exigência da autorização da Assembléia Legislativa para a sua instauração: se, no modelo federal, a exigência da autorização da Câmara dos Deputados para o processo contra o Presidente da República finca raízes no princípio da independência dos poderes centrais, à mesma inspiração se soma o dogma da autonomia do Estado-membro perante a União, quando se cuida de confiar a própria subsistência do mandato do Governador do primeiro a um órgão judiciário federal. 2. A necessidade da autorização prévia da Assembléia Legislativa não traz o risco, quando negadas, de propiciar a impunidade dos delitos dos Governadores: a denegação traduz simples obstáculo temporário ao curso de ação penal, que implica, enquanto durar, a suspensão do fluxo do prazo prescricional. 3. Precedentes do Supremo Tribunal (RE 159.230, Pl, 28.3.94, Pertence, RTJ 158/280;HHCC 80.511, 2ª T., 21.8.01, Celso, RTJ 180/235; 84.585, Jobim, desp., DJ 4.8.04). (...)”.
[10] Trata-se da ADIn 4.362/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, e da ADIn 4.386/SC, cujo relator é o Ministro Gilmar Mendes. Na primeira delas, em que se discute dispositivo da Lei Orgânica do Distrito Federal, o relator negou o pedido de liminar – sob o fundamento de que não seria adequado proferir decisão monocrática contra a jurisprudência atual da Corte –, mas determinou a observância do rito abreviado previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/99.
[11] O caso mais recente de intervenção federal plena, com nomeação de interventor, ocorreu em novembro de 1964, sob o apoio de tropas federais e tanques de guerra. Na ocasião, afastou-se o Governador de Goiás, Mauro Borges – que havia apoiado a instauração do governo militar –, sob a alegação de que ele estaria conduzindo um governo de tendências comunistas e subversivas.
[12] Ficaram vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, que, nos termos do pedido sucessivo da inicial, deferiam a liminar com fundamento na inconstitucionalidade parcial das normas impugnadas e a elas conferiam interpretação conforme para afastar do ordenamento jurídico: a) “interpretação do inciso II do art. 45 da Lei 9.504/97 que conduza à conclusão de que as emissoras de rádio e televisão estariam impedidas de produzir e veicular charges, sátiras e programas humorísticos que envolvam candidatos, partidos ou coligações” e b) “interpretação do inciso III do art. 45 da Lei 9.504/97 que conduza à conclusão de que as empresas de rádio e televisão estariam proibidas de realizar a crítica jornalística, favorável ou contrária, a candidatos, partidos, coligações, seus órgãos ou representantes, inclusive em seus editoriais”.
[13] Lei nº 9.504/97, art. 45: “A partir de 1º de julho do ano da eleição, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e noticiário: ... II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito; III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes; ... § 4º Entende-se por trucagem todo e qualquer efeito realizado em áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação. § 5º Entende-se por montagem toda e qualquer junção de registros de áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação.”).
[14] Sem prejuízo de a Corte já ter admitido até mesmo a possibilidade de censura – forma mais intensa de restrição – em situações absolutamente excepcionais, como no já célebre caso Ellwanger, em que se determinou a retirada de circulação de livros considerados anti-semitas, por negarem a ocorrência do holocausto. V. STF, DJe 19 mar. 2004, HC 82.424/SC, Rel. originário Min. Moreira Alves, Rel. para o acórdão Min. Maurício Corrêa.
[15] Excepcionalmente tem sido admitida a quebra de sigilo por decisão das CPIs – mantida a exigência de motivação –, mas isso por conta da previsão constitucional expressa de que tais comissões dispõem de “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”.
[16] Mestre em Direito e Doutoranda pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Autora do livro Precedentes: O Desenvolvimento Judicial do Direito no Constitucionalismo Contemporâneo, 2008.
Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2010-dez-28/retrospectiva-2010-prudencias-ousadias-mudancas-necessarias-stf>. Acesso em: 28 dez. 2010