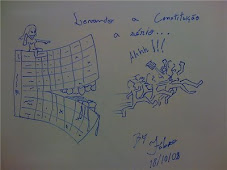Resenha da obra: MOTTA, Francisco José Borges. Levando o Direito a sério: uma crítica hermenêutica ao protagonismo judicial. Coleção Lenio Luiz Streck. Florianópolis : Conceito, 2010. 232 p.
Por Adalberto Narciso Hommerding
A obra que tenho o prazer de resenhar é o resultado da dissertação de Mestrado do talentoso Francisco José Borges Motta, Promotor de Justiça no Estado do Rio Grande do Sul e Doutorando em Direito na UNISINOS. Francisco, tributário da Nova Crítica do Direito (ou Crítica Hermenêutica do Direito), cunhada originalmente por Lenio Luiz Streck, parte de uma das idéias centrais acerca do Estado Democrático de Direito, que é a do deslocamento do centro de decisões dos demais poderes para o Poder Judiciário (Justiça Constitucional), lembrando que o Direito passa a ser instrumento de transformação social, fazendo com que as inércias do Executivo e do Legislativo sejam supridas pelo Judiciário no que diz respeito à implementação dos direitos fundamentais.
O autor, nesse primeiro momento, pretende (e o faz de forma original), a partir daí, delimitar o sentido da Constituição a fim de compreender os problemas do processo jurisdicional brasileiro, aportando sua argumentação, principalmente, na Crítica Hermenêutica de Streck e na Teoria do Direito como Integridade, de Ronald Dworkin, que nega a prática do decisionismo, pregando a necessidade de “respostas corretas” no Direito, na defesa da sua autonomia e do seu necessário relacionamento com a moral que lhe é co-originária, mas da qual não depende. Assim é que Francisco dirá que os tribunais devem estar preparados para formulação de “questões de moralidade política” que exigem resposta, inclusive contra as “maiorias eventuais” e “vontades sociais de ocasião”. Aqui, Francisco deixa claro seu comprometimento com uma postura (constitucional) que envolve “sacrifícios”, diante da necessidade de se renunciar a “benefícios marginais”, a fim de que as instituições possam garantir a “igual consideração e respeito” pelos cidadãos de um país.
O texto defende, portanto, a necessidade de uma “instituição” de direitos e de “instituições”, dentre elas o Judiciário, que “levem os direitos e a Constituição a sério”. Nesse aspecto, estabelece o autor o “ponto de contato” entre o neoconstitucionalismo e a teoria dos direitos de Dworkin, que vê o Direito não apenas como um sistema de regras, à moda do positivismo que sequestrou o “mundo prático”, mas como um sistema de regras e de princípios, possibilitando estes o resgate desse mundo prático que foi aniquilado pelas diversas teorias positivistas, notadamente as de Herbert Hart e Hans Kelsen. E essa “carga” (de resgate) ficará depositada sobre os ombros da Justiça Constitucional, que deverá estar preparada para “operacionalizar” uma “leitura moral” da Constituição.
Daí a importância de se “articular” a leitura da Constituição, como pontua o autor, impedindo, nas palavras de Francisco, “os juízes de afirmarem que a Constituição expresse suas próprias convicções”, mas lembrando que “somos governados pelo que nossos legisladores disseram” (Dworkin), pois, mais que um documento, a Constituição é uma “tradição” (Gadamer), havendo necessidade de uma “mediação”, pela compreensão, entre a história e a atualidade.
É nesse ponto que ingressa a (não menos importante) idéia de que o trabalho do juiz é um “trabalho em equipe”, “construído em conjunto”, pois não pode ser um “solipsista”, não havendo um “grau zero” de interpretação, devendo, portanto, ter uma visão do Direito como um “todo coerente e íntegro”, no que a doutrina e os precedentes, desde que “adequadamente compreendidos”, o socorrerá. A leitura moral da Constituição, nesse aspecto, é o primeiro passo para que se possam livrar os juízes do “protagonismo” que o positivismo com sua discricionariedade lhes legou.
A partir de Arthur Kaufmann, Francisco Motta rejeitará o “puro filósofo” e o “puro jurista” para, encampando a postura hermenêutica de Lenio Streck, defender a superação da filosofia “do” direito por uma filosofia “no” direito, pois este só pode ser pensado em linguagem filosófica, não podendo a filosofia, por seu turno, ser entendida (ou transformada) num “discurso ornamental” que seja tão-somente “adjudicado” pelo Direito. É que a filosofia, sobretudo, é “condição de possibilidade” de qualquer pesquisa em Direito, como bem refere Lenio. E isso é inevitável.
Aqui, faz-se presente o ponto de ultrapassem da filosofia da consciência. Ultrapassagem feita a partir de Martin Heidegger (filosofia hermenêutica) e Hans-Georg Gadamer (hermenêutica filosófica), que desmistificam a relação sujeito-objeto, própria da metafísica, dando um “basta” à idéia de verdade como “produto” do método e (re)colocando a hermenêutica na sua “condição mundana”, que agora passa a dizer respeito às condições prévias não só da interpretação, mas de todo o pensamento e atividade humana. É que, a partir de Heidegger e Gadamer, há uma necessidade de “explicitar o ser”, que Platão e todos os demais filósofos posteriores “esconderam” ao entificá-lo, deixando de praticar uma “ontologia fundamental” pela desconsideração da diferença ontológica e do aspecto da quotidianeidade do “Dasein”, o ser-aí, que é fático, mundano, cuja analítica desemboca na “hermenêutica da faticidade”.
A partir de Heidegger, o compreender passa a ser um existencial que conduz a possibilidades. Afinal de contas – e aí Francisco, que sabe muito bem disso tudo, retornará a Lenio -, “compreendemos para poder interpretar”, e não o reverso. Eis aí a importância do “método fenomenológico”, que não é “método”, deixando que a “coisa seja”, a partir da experiência, de que o Direito não pode prescindir. Nesse ponto, “Chico” pregará com Streck uma verdadeira “cruzada” pela “ontologização” do Direito, que não pode mais prescindir do mundo prático e que não pode ficar “blindado” à linguagem, que de há muito invadiu a filosofia (e o Direito), “derretendo” o esquema sujeito-objeto. Por isso é que o Direito deve ser pensado em seu acontecer, uma vez que deve ser o “lugar da concretização justa de direitos”. Essa colocação permitirá fugir dos esquemas da “intenção do legislador”, tão bem criticados por Carlos Santiago Nino.
A obra, a partir daí, passa a tratar da necessidade de uma fundamentação para compreender hermeneuticamente o Direito Processual Civil, sempre a partir da idéia de que é necessário “combater” o protagonismo judicial – entendido aqui como puro ativismo -, aceitando-se a Constituição em sua materialidade e os princípios do Devido Processo Legal, contraditório e ampla defesa como princípios de “moralidade política” que devem ser tomados como um “todo coerente”, cuja importância só se existencializa no caso particular. Processo, assim, é direito e garantia fundamental, condição de possibilidade de acesso a uma ordem jurídica justa, constitucional e principiologicamente íntegra. Por meio dele é que o cidadão, nas palavras de Francisco, “não só 'pede jurisdição' (sic), mas verdadeiramente dela participa, concorrendo efetivamente para a adequada concretização dos seus próprios direitos (tomados em conjunto (...) com a integridade do ordenamento jurídico), o que não ocorre sem que um diálogo seja permitido (e estimulado) pela agência judiciária, que, de sua vez, só se justificará democraticamente na medida em que se deixe influenciar pelos argumentos (de princípio!) universalizáveis e relevantes das partes, relacionados com a causa em disputa”. E aí o autor lembrará: “essa fórmula judiciária, que se pretende democrática (e democratizante), não pode ficar confiada à subjetividade assujeitadora (...) de um juiz 'protagonista'”.
Os passos que Francisco entende importantes para que se possa falar em um processo de autêntica jurisdição constitucional são os seguintes: a) reconhecer que o Direito Processual Civil não desempenha o papel que deveria desempenhar em nosso país, pois, primeiro, o modelo de Direito praticado é preparado para conflitos interindividuais, típicos de uma jurisdição liberal, e, segundo, porque vivemos dependentes de um parâmetro filosófico-interpretativo preso à filosofia da consciência, concebendo o Direito como uma “ciência exata”, “técnica” ou “método”, desconsiderando que o Direito “se dá” na linguagem, pois não é algo fixo; linguagem que não está à disposição do intérprete e que não é um instrumento, pois ela não permite que o operador do Direito “assujeite-o” como quem “assujeita” um objeto. Em síntese, a prática do direito não é silogismo; b) reconhecer a existência de uma “baixa constitucionalidade” em terra brasilis (Streck), que não permite a compreensão adequada do Direito nos quadros do Estado Social e Democrático de Direito e que faz com que continuemos, por um lado, compreendendo, à moda liberal, o juiz como um “espectador” ou mero “mediador” (passivo) de um conflito, e o processo como “processo escrito e dominado pelas partes”, e, por outro, à moda “socializante”, o juiz como um “autoritário”, de função “paternalista”, e o processo como “instituição estatal de bem-estar social” (Klein), cujas respostas dependem cada vez menos da “fala” das partes.
Francisco deixa claro que pretende fornecer subsídios para o desenvolvimento de uma teoria processual que, ao mesmo tempo, seja hermenêutica e democrática, fazendo jus aos desafios que o neoconstitucionalismo propõe à Justiça Constitucional. Daí a importância de se resgatar a “estratégia” da leitura moral das cláusulas constitucionais importantes, tais como as do Devido Processo Legal, contraditório e ampla defesa, que devem ser compreendidas como “veículo de princípios morais 'abstratos'”, enfeixados no sistema constitucional e principiologicamente coerente, que comungue de uma “teoria moral” determinada: a de que o cidadão possui direitos morais “contra” o Estado, cuja importância não se pode dobrar à “vontade da maioria”, pressuposto esse de uma autêntica democracia, em linguagem dworkiniana.
O processo, pois, deve viabilizar “participação”, permitindo ao cidadão expor argumentos (de princípio). E nesse sentido há uma importante contribuição da dita “Escola Mineira do Direito Processual”, com base no paradigma procedimental do Estado Democrático de Direito (Habermas), que propõe um “processualismo constitucional democrático” caracterizado pela “comparticipação processual”, policêntrica e interdependente, pelo resgate da leitura “forte” dos princípios processuais constitucionais e do papel técnico e institucional do processo.
Embora Habermas e Dworkin reconheçam a natureza deontológica da validade jurídica e a necessidade de uma produção legítima do Direito, haverá, no entanto, uma divergência central entre a Crítica Hermenêutica do Direito, trabalhada por Lenio e Francisco a partir de Dworkin, e a compreensão procedimental da democracia, desenvolvida pelos mineiros, que reside na “cisão” entre os “discursos de fundamentação” e de “adequação”; cisão com a qual a hermenêutica filosófica não convive, pois não reconhece a cindibilidade – que de fato não há – entre interpretação e aplicação, não sendo possível, pois, falar em interpretação sem situações de aplicação, não havendo, portanto, possibilidade de se desonerar o juiz do seu papel de elaborar o “discurso fundamentador”, uma vez que a validade não (pode) decorre(r) tão-somente de uma “justificação prévia”, fruto de um “devido processo legislativo”. Ou seja: “só interpretamos aplicando!”, nas palavras do autor.
O que Francisco Motta pretende afirmar, no fundo, é que as lições da Escola Mineira são importantes, mas que há, sim, necessidade de, obedecidos os supostos centrais do processo jurisdicional democrático, se entender o resultado do processo como “interpretativo”. Esse resultado, porém, poderá ser “não-legítimo”, caso seu conteúdo não se afine com a “materialidade da Constituição”. E aqui Francisco é certeiro: “o procedimento, por si só, não legitimará a resposta obtida com o processo, que é – também ele – interpretativo, e que deverá (...) assumir a 'responsabilidade' de ser interpretativo, de trabalhar com categorias interpretativas e de se ver e envolver sujeitos que (desde já sempre) interpretam”.
Os “traços básicos” da leitura moral da Constituição a respeito do processo, segundo o autor, assim ficariam enfeixados: isonomia, juiz não-protagonista, contraditório (influência dos argumentos de princípio trazidos pelas partes), observância dos demais princípios processuais, tais como a tempestividade da tutela em favor do devido processo, entendido como acesso a uma ordem jurídica constitucional principiologicamente coerente, restando ao juiz o “dever fundamental” de fundamentar suas decisões, e não só de atender ao procedimento, fornecendo “boas respostas”, “respostas adequadas constitucionalmente” (Streck) ou “hermeneuticamente corretas”.
O capítulo II da obra resenhada explicita melhor algumas noções que são trabalhadas ao longo do texto. A partir de Dworkin, o autor enfrenta os três preceitos-chave que definem as posturas positivistas - a) o direito de uma comunidade é um conjunto de regras especiais que visam determinar quais são as condutas passíveis de coerção ou punição pelo poder público. Há “testes de pedigree” para verificar quais as regras válidas; b) quando um caso não estiver coberto por uma das regras, o caso não pode ser resolvido pela aplicação do direito, mas pelo “discernimento pessoal” do juiz; c) ter obrigação jurídica é dizer que o caso enquadra-se na regra jurídica válida que exige que alguém faça ou deixe de fazer alguma coisa -, atacando, como faz o jusfilósofo norte-americano, a discricionariedade judicial em seu sentido “forte”, sinônimo de decisionismo. Após descrever a teoria de Herbert Hart, que vê o Direito como um sistema de regras em que, nos casos nebulosos, o juiz, em face à “textura aberta” do Direito, age com discricionariedade, Francisco aponta para a discussão de Hart com Dworkin, para quem o Direito, mais que um sistema de regras, é um sistema de princípios, que não podem ser considerados como um “número fixo de padrões”, mas, sim, “exigências” de equidade, justiça ou outra dimensão da moralidade, que se chocam contra o positivismo, desconhecedor que é do “problema interpretativo” do Direito.
Dworkin defende os chamados “direitos políticos preferenciais” (background rights), notadamente aqueles derivados do “direito abstrato à consideração e respeito”, que preexistem ao Estado e que por isso podem ser opostos a ele. Reconhece-se, assim, um caráter normativo das imposições de perfil moral (justiça, equidade etc.) veiculadas pelos princípios que exercem uma espécie de “força gravitacional” sobre a argumentação judicial.
O Direito, em Dworkin, é uma unidade coerente, devendo ser entendido em sua “integridade”. Sua justificativa (do Direito) aponta para uma “personificação moralmente íntegra” em que as preocupações e tradições morais da comunidade devem ser identificadas pelo operador do Direito. E é nos princípios que o jurista identificará o sentido das regras. Daí a não-oposição entre regras e princípios que, mais tarde, Lenio, com olhos postos na diferença ontológica (o ser é o ser do ente e o ente só é em seu ser) dirá que realmente não existe, justamente porque o princípio é instituidor e está por detrás da regra.
A análise de Francisco passa pela descrição do juiz Hércules (metáfora cunhada por Dworkin) que, apesar de ser considerado (ele, Hércules) um jurista com capacidade sobre-humana, não é um “protagonista”, um “solista”, mas alguém que compreende o Direito como uma totalidade, levando em consideração o que os juízes fizeram no passado e fazem no presente, além da produção legislativa. Hércules é o juiz que “presta contas” à Constituição e ao seu conjunto principiológico, o que faz com que encontre no Direito soluções que não se ajustam à sua preferência pessoal, tarefa essa que deve(ria) ser de todos os operadores do Direito. Assim é que Hércules pode dar “boas respostas”, “respostas corretas”, o que explica por que os juízes não podem ficar desonerados do dever de fundamentar suas decisões com argumentos de princípio. Francisco lembrará, então, que o juiz, por integrar uma comunidade de pessoas livres e iguais, não é um “outsider”, devendo respeitar a produção democrática do Direito, aceitando a noção de que as pessoas têm direitos “contra” o Estado, em especial o de serem tratadas com igual consideração e respeito. “Sua” jurisdição, portanto, tem de ser justificada perante essas exigências. Numa palavra, com o autor, “se não podemos exigir do juiz que chegue a respostas corretas sobre os direitos de seus cidadãos, podemos ao menos exigir que o tente!”. Os juízes, assim, não podem desconsiderar o seu dever (constitucional) de elaborar uma teoria coerente e que não leve em consideração a “complexidade normativa do Direito”. A resposta correta será uma resposta à discricionariedade “forte” (decisionismo), a que se refere Dworkin, “quebrando” o protagonismo judicial, cabendo ao processo, portanto, fornecer as condições de possibilidade para a sua obtenção! O processo jurisdicional democrático, nesse sentido, é “democratizante”, pois (deve) conta(r) com a participação efetiva das partes.
Após tratar das noções acima referidas, Francisco passa a reconhecer evidentes pontos de contato entre as teorias de Dworkin e de Gadamer, invocando, então, a tradição gadameriana e o Direito como Integridade dworkiniano para dizer que Dworkin sempre teve presente a idéia de que não há cisão entre os momentos da compreensão-interpretação-aplicação, o que o aproxima de Gadamer, pois, consoante o jusfilósofo norte-americano, “os juízes não decidem os limites das restrições institucionais, para só então deixar os livros de lado e resolver as coisas a seu próprio modo”. Dworkin, portanto, desenvolve uma “interpretação construtiva”, tendo por objeto as relações sociais (leia-se “o Direito”), que, à toda evidência, prende-se à hermenêutica da tradição gadameriana e à idéia de que há uma “circularidade” da hermenêutica na prática cotidiana, sendo a interpretação criativa um “caso de interação entre propósito e objeto” que, naturalmente, “envolve o intérprete (e seu propósito) com o objeto a ser interpretado”, devolvendo-o, portanto, ao “círculo hermenêutico” (Heidegger e Gadamer). E aí Dworkin explicitará ainda mais seu apego a Gadamer, ao se posicionar francamente contra a idéia de uma “intenção histórica” que possa ser o “fundamento constitutivo da compreensão”. Com isso Dworkin reconhece claramente a impossibilidade de reconstrução da “intenção” do autor de um texto (no caso o legislador) e deixa entender que o que importa como condição de possibilidade para a construção da “resposta correta” é a “pergunta correta”, nos moldes do que já ensinava Gadamer.
O grande desafio da prática do Direito, que é interpretativa, é, segundo o autor, o de trabalhar uma postura que concilie o caráter produtivo (criativo) da hermenêutica com a “exigência democrática de que o tribunal 'construa' suas decisões com a colaboração efetiva das partes, e de que o resultado deste processo seja um provimento que honre a materialidade da Constituição e a história judiciária produzida com sucesso”. É a superação desse desafio que possibilitará combater o protagonismo judicial, possibilitando que a decisão judicial seja uma resposta “do Direito”, e não simplesmente “do juiz”.
A Constituição, nesse aspecto, não poderá ser lida como uma “metanorma” (grundnorm), mas como integrante do Direito, cuja pretensão de eficácia somente pode ser atendida quando “aplicada”! E é claro que não se descobrirão sentidos, significados de textos, pois a prática do Direito é interpretativa no sentido de interpretação da “história jurídica”, combinando elementos de descrição e valoração, mas com estes não se confundindo. Vem daí a “combinação” que Dworkin faz entre Direito e literatura, utilizando a interpretação literária como modelo para o modo central da análise jurídica. Cada juiz, nesse sentido, assume o seu papel de “romancista em cadeia”: “deve ler o que outros juízes fizeram no passado, não apenas para descobrir o que disseram, mas para chegar a uma opinião sobre o que esses juízes fizeram coletivamente, ou seja, como cada um deles (também) formou uma opinião sobre o 'romance coletivo' escrito até então”. Assim, diz Francisco referindo-se a Dworkin, “cada juiz deve considerar-se como 'parceiro de um complexo empreendimento em cadeia, da qual essas inúmeras decisões, estruturas, convenções e práticas são a história; é seu trabalho continuar essa história no futuro por meio do que faz agora”. Para isso, “o juiz deverá interpretar o que aconteceu antes e determinar, segundo seu próprio julgamento, o motivo das decisões anteriores, que deverão ser tomadas 'como um todo', o que significará o 'propósito ou o tema da prática até então'”.
O autor desenvolve, a partir daí, a concepção defendida por Dworkin no sentido de que, além de uma “coerência de estratégia”, os juízes devem observar uma “coerência de princípio”, que exija que os diversos padrões regentes do uso estatal da coerção contra os cidadãos sejam coerentes expressando uma única e abrangente visão de justiça. Aqui o ponto que Francisco pretendia atingir: o Direito como Integridade, que pressupõe uma compreensão do Direito como “totalidade”, “completeza”, em que as pessoas têm direito a uma “extensão coerente”, fundada em princípios, das decisões políticas do passado, ainda quando os juízes divirjam profundamento sobre seu significado. A integridade, nesse sentido, é um “ideal político” que explica as práticas constitucionais, constituindo-se em forma de legitimação política fundada na “fraternidade”, tão cara a uma comunidade que se pretenda “comunidade de princípios”. Dworkin acrescenta às idéias rousseauniana e kantiana de “autolegislação” a noção de “integridade”, que deve ser aceita por uma comunidade de princípios. A comunidade de princípios, fiel à integridade, pode “reivindicar a autoridade de uma verdadeira comunidade associativa”, pois suas decisões coletivas são “questões de obrigação”, e não apenas de “poder”. A comunidade de princípios, em suma, reivindica a autoridade moral em nome da fraternidade (Dworkin).
O Direito como Integridade conviverá com a “verdade hermenêutica” que deriva dos princípios de justiça, equidade e devido processo legal que oferecem a “melhor interpretação construtiva” da prática do Direito de uma comunidade. É que o Direito como Integridade determina aos juízes que estes admitam, tanto quanto possível, que o Direito é estruturado por um conjunto coerente de princípios que exigem do juiz “por à prova” sua interpretação da vasta rede de estruturas e decisões políticas da sua comunidade. Em suma, o juiz tem o dever de interpretar a história jurídica que encontra, e não de inventar uma “história melhor”; seu dever é atender a alguma concepção de integridade e de coerência do Direito como instituição (doutrina da responsabilidade política do juiz).
Francisco deixa claro, no entanto, que as respostas, evidentemente, não estão “prontas”, pois a integridade convive com a possibilidade de alterações das decisões anteriores. Ou seja, não está em jogo “história versus justiça”, uma vez que a decisão judicial que eventualmente venha a “quebrar” um precedente estará apenas “conciliando” considerações que, em geral, se combinam em qualquer cálculo de direito político, o que não é causa de surpresa alguma, pois a decisão judicial nada mais faz do que tornar efetivos direitos políticos já existentes. Aliás, o “rompimento” com a tradição, já dizia Gadamer, faz parte da “essência” (sic) do humano, mas isso só é possível com uma “consciência hermenêutica desperta e vigilante”.
No fundo, o autor defende, com Dworkin, a possibilidade de novos enfrentamentos de problemas pelo juiz com olhos postos na integridade, pois os indivíduos têm direito à aplicação consistente dos princípios sobre os quais se assentam suas instituições, uma vez que, apesar de a vontade popular (“moralidade constitucional da comunidade”) por vezes poder ser incoerente, mesmo assim o cidadão tem um direito a exigir decisões coerentes. Assim como a hermenêutica, também a integridade não tem a pretensão de ter a “última palavra”, mas há que se convir que tem a “primeira palavra”. O objetivo da integridade, dirá Francisco, é um “princípio”!
O Capítulo III da obra é, na verdade, uma homenagem a Ovídio Baptista da Silva, sem dúvida um (ou talvez o) dos melhores processualistas que o Brasil já produziu. Para o autor, a obra do Prof. Ovídio é uma “estação necessária” na viagem de qualquer um que se aventure nas coisas do processo. E é neste capítulo que Francisco aproximará as lições de Ovídio a respeito do dever constitucional de fundamentar decisões à premissa dworkiniana de que o tribunal deve conduzir sua atividade jurisdicional por argumentos de princípio.
A análise parte da idéia de que o paradigma racionalista, como defendia Ovídio, reduziu o fenômeno jurídico ao “mundo normativo” em que a lei tem um “sentido unívoco”. O Direito Processual Civil, por sua vez, não acompanhou as transformações sucessivas aos movimentos liberais que culminaram na Revolução Francesa, circunstância que se reflete atualmente na crise de legitimidade do Poder Judiciário. A proposta de Motta é a de que se invista na compreensão hermenêutica do Direito Processual Civil, promovendo, em suas palavras, uma “articulação interdisciplinar”, de onde se possa “vislumbrar os compromissos da ciência processual com a História” (Ovídio); tarefa que não é fácil, uma vez que o paradigma racionalista comprometeu o Direito Processual, sujeitando-o a princípios metodológicos e fazendo dele uma “ciência” e do Direito um “conjunto sistemático de conceitos, com pretensão à eternidade”, como já ensinava o Prof. Ovídio.
Comprometidos com a “certeza”, com o valor “segurança”, com a “matemática” (Leibniz), com a “vontade da lei” e com uma pretensa “neutralidade”, o Direito e a magistratura ficaram subordinados às leis, sem qualquer compromisso com a justiça concreta. Ovídio, no entanto, pensa que o Direito deve, sim, fornecer instrumentos e condições concretas que possam contribuir para a realização de uma sociedade mais próxima à justiça, que se desvela em cada caso, não podendo a discricionariedade do ato judicial transformar-se em arbitrariedade. E para que isso aconteça os juízes não podem ser “burocratas”, “apolíticos”, “alguém que não pode ‘interpretar’” e que consequentemente não “fundamenta” seus provimentos. Afinal de contas, o juiz não pode ser um “irresponsável”. A aposta aqui, então, volta-se para a hermenêutica, pois o Direito depende de uma compreensão hermenêutica, compromissada com a faticidade, “de olho” no fenômeno. Dito de outro modo, nas palavras de Francisco Motta: o intérprete deve assumir-se “como” intérprete!
Mas há divergências entre o pensamento do autor e o do Prof. Ovídio. Embora Ovídio não negue a importância da Constituição, nosso mestre é cético em relação à função do Direito no sentido de transformar o estado das coisas, não enxergando no neoconstitucionalismo a solução para o Direito. A crise do Direito é uma crise de paradigma: o Direito, na modernidade, foi afastado da justiça para se tornar um “braço” do poder. Por ser ideológico (a “essência da ideologia moderna”), o Direito teria perdido sua alma e o Judiciário, na verdade, funcionaria “bem”, pois foi concebido dentro de um sistema que o concebeu para busca de certezas. O paradigma econômico manteria, assim, o Direito refém de uma crise impossível de ser superada pelo neoconstitucionalismo, pois o “direito racional” não pode “salvar-se” por si mesmo, “tão-somente” a partir da Constituição.
Francisco dirá, então, que, primeiro, o Brasil, por ser um país de modernidade tardia, necessita de um “constitucionalismo radical”; segundo, ou se garantem e se concretizam direitos fundamentais ou renunciamos à substancialidade, restando “orar” pela Política, que pode vir a sonegar a faticidade do Direito com prejuízos evidentes à minorias. Se a Constituição é o “elo” de conteúdo entre Política e Direito (Streck), de modo que sua concretização passa também pela Política e pela Moral “institucionalizada” nos direitos fundamentais e princípios, é a partir dela, como “evento” que estabelece padrões do justo, que podemos atribuir novos sentidos ao Direito. Mas o autor vai mais longe: consegue desfazer algumas leituras mais apressadas que o Prof. Ovídio fez de Dworkin, quando, junto com Castanheira Neves, o acusou de ser um “iluminista”, afirmando que o Professor norte-americano “não raciocina a partir da experiência forense, visão indispensável a quem pretende envolver-se com o processo”. De fato, as observações de Ovídio aqui apresentam um problema: Dworkin sabe que “não há hermenêutica sem fatos”, interessando, sim, que o juiz se assuma “como” juiz. Na verdade, é isso que Dworkin prega. É essa a questão que lhe interessa: a assunção da responsabilidade do juiz, no que, fundamentalmente, não difere de Ovídio, pois este também defende o dever fundamental de fundamentação das decisões judiciais. E há outro detalhe: toda a contribuição teórica de Dworkin, afirma Francisco Motta, tem como “ponto de partida” casos controversos que ocorreram nos Estados Unidos, sendo sua pretensão “compreensiva”, antes de ser “estruturante” da prática judiciária. É que Dworkin sabe muito bem que há diferença entre texto e norma, que o Direito (como Integridade) exige coerência de princípio, mas que a justiça e a equidade andam ao lado da coerência. Uma leitura moral da Constituição, embora possa coincidir com preferências políticas pessoais – acusação que é feita por Castanheira Neves a Dworkin -, exige, no entanto, o reconhecimento da integridade como ideal e a ser perseguido, cobrando dos juízes coerência. E aí está o diferencial (ou, por incrível que pareça, a “aproximação” paradoxal) entre Castanheira e Ovídio, e Dworkin: enquanto este, Dworkin, deixa claro que as opiniões dos juízes expressam suas convicções de moralidade política, pois “o intérprete integra o resultado da interpretação”, e que, bem por isso, há que se respeitar a coerência e integridade do Direito, Castanheira Neves e Ovídio, apesar de também afirmarem que a “neutralidade” judicial é uma “quimera”, acabam esquecendo que a coerência (de princípio) está imbricada no raciocínio jurídico, não sendo algo que se incorpora a posteriori, como se de fora fosse adjudicada. E é a coerência de princípio que afastará a discricionariedade judicial enquanto “preferência pessoal”. Lembremos que não há cisão no processo compreensivo. A coerência deve ser “pré-compreendida” como um padrão, e não como uma “formalidade” tão-somente.
Ponto que merece destaque no capítulo é a crítica (sempre respeitosa) que o autor faz à Escola Mineira, notadamente às lições de Rosemiro Pereira Leal e André Cordeiro Leal que, em crítica a Ovídio Baptista da Silva, deram a entender que o fortalecimento dos poderes do juiz, defendido por Ovídio, rumaria a uma espécie de “autocracia” judicial na criação do Direito, como se o juiz fosse um sujeito “solipsista” com “acesso exclusivo” aos “significados e alcances” das “realidades sociais”. De fato, a crítica de ambos não procede. Tanto é assim que os pontos de contato entre Ovídio e Dworkin fazem-se presentes no “dever de fundamentar decisões” (Ovídio) e na exigência de que os provimentos judiciais sejam “vazados” em “argumentos de princípio” (Dworkin). Aí Francisco enveredará pelo “diálogo necessário” entre Lenio Luiz Streck e Ovídio Baptista da Silva, provando que, na verdade, Ovídio defende a figura de um juiz responsável, democrático, atento aos argumentos das partes, cuja decisão é fundamentada, não considerando válida, portanto, qualquer decisão, circunstância que o afasta do positivismo da “teoria pura” de Kelsen, que permite “múltiplas respostas”. Novamente, Dworkin é invocado para lembrar que a lei, embora justificada por argumentos de “política”, ao reconhecer um direito a alguém, faz com que o beneficiário da norma não mais dependa dos originais argumentos de política para obtenção do benefício, pois a lei o terá transformado em uma “questão de princípio”!
Sempre é bom lembrar que a Democracia não se resume ao império da soberania popular. Ela também depende de que sejam assegurados os direitos fundamentais das minorias sem influência política. A legitimidade dos juízes, assim, não fica subjugada ao argumento de que uma decisão legislativa possa ser mais adequada do que uma decisão judicial. O ideal democrático da igualdade do poder político pode, sim, ser promovido com a transferência das decisões sobre direitos das legislaturas para os tribunais, não havendo qualquer contraste entre Democracia e Estado de Direito; pelo contrário. Por isso o autor dirá que “Cuida-se, ambos, de valores políticos enraizados num ideal mais fundamental, o de que qualquer governo aceitável deve tratar as pessoas como iguais; e um Estado assim constituído encoraja cada indivíduo a supor que suas relações com outros cidadãos e com o próprio governo são questões de justiça (...) é para isso que se aposta num fórum independente, um fórum de princípio”. Esse fórum de princípio é “a promessa de que os conflitos mais profundos, mais fundamentais entre os indivíduos e a sociedade irão, algum dia, em algum lugar, tornar-se finalmente questões de justiça”.
O Direito significa bem mais do que o exercício de um poder discricionário (no sentido forte) das autoridades públicas. Antes disso, é uma “questão de direitos e deveres”, como pontua Dworkin.
O juiz “projetado” pelo jusfilósofo norte-americano, em suma, é o “juiz responsável” de Ovídio: tem um poder discricionário apenas em sentido fraco. Sua exigência é a de que “motive completamente” o ato judicial e que sua argumentação “convincente”, que deve levar em conta todos os “aspectos relevantes do conflito” (“análise crítica dos fatos”), seja uma “argumentação de princípio”. A tese de discricionariedade proposta por Ovídio é uma tese de “boas respostas”, comprometida; enfim, uma doutrina de “responsabilidade dos juízes”. Somadas ambas as teses (Dworkin e Ovídio) à tese de Lenio Luiz Streck, o resultado será um “réquiem” ao “protagonismo judicial”, como muito bem conclui Francisco.
Por fim, o autor examina, num quarto capítulo, os alicerces do mecanismo da “ponderação”, sofisticado e popular critério para solução de casos difíceis, que se deve, notadamente, a Robert Alexy, e o chamado “formalismo valorativo”, escola que tem à sua frente Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, para submeter ambas as teorias a uma “filtragem hermenêutica”.
Robert Alexy, embora possa ser tido por alguns juristas como um autor perfilhado ao “paradigma hermenêutico”, não o é. Alexy filia-se, sim, ao “racionalismo discursivo”, desenvolvendo uma “teoria da argumentação”. Após análise da teoria alexyana (distinção estrutural entre regras e princípios; abertura do direito à moral pela institucionalização dos direitos fundamentais; preocupação de descobrir os direitos que as pessoas têm; conceito de norma; vinculação entre norma e argumentação; noção de princípio como “mandamentos de otimização”; “colisões de princípios”; desdobramentos do “princípio da proporcionalidade” etc), Francisco, a partir de Arthur Kaufmann e Lenio Streck, demonstra que a teoria da argumentação não supera o positivismo, pois acaba apostando na suficiência ôntica da regra, que seria um receptáculo de sentidos, ou nas condições privilegiadas do sujeito, que então assujeitaria o objeto conforme as possibilidades de sua consciência. Nesse aspecto, a teoria da argumentação é anti-hermenêutica (Kaufmann), o que não implica que a hermenêutica seja anti-argumentativista. Daí a advertência de Ernildo Stein e Lenio Streck no sentido de que “a hermenêutica e as teorias da argumentação operam em níveis de racionalidade distintos. Enquanto a primeira funciona como um ‘vetor de racionalidade de primeiro nível’ (estruturante), (...) a segunda opera no plano lógico, apofântico, mostrativo”. Resumindo: a teoria da argumentação não substitui a hermenêutica filosófica, pois não há um modo procedimental de acesso ao conhecimento. Sentidos não estão nas coisas. Eles se dão “intersubjetivamente”, como diria Lenio. Em outras palavras, com o “método” só se lida a partir da pré-compreensão, que escapa ao sujeito e ao assujeitamento!
Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, a seu turno, desenvolve um modelo de processo pautado no respeito aos princípios processuais, dentre eles o contraditório, e na contraposição ao excesso de formalismo com o propósito de solucionar a “antinomia existente entre formalismo e justiça”, problema que impede, segundo ele, a adequada realização do direito material e dos “valores” constitucionais. O formalismo-valorativo quer compatibilizar efetividade e segurança, pela organização de um “processo justo”. Francisco Motta concorda com Alvaro de Oliveira: o processo não é um fim em si mesmo. E também não é ideologicamente neutro. Seu desvirtuamento é obstáculo à realização dos direitos. E não há nada de equivocado na defesa de um processo em contraditório. O problema é que Carlos Alberto, ao tentar entrelaçar Constituição e processo jurisdicional, erra na “estratégia”, como diz Francisco, pois acaba se rendendo ao escalonamento axiológico dos princípios, mais ou menos nos moldes do que defende Alexy. E os problemas realmente começam quando Alvaro de Oliveira defende a compreensão “axiológica” da Constituição, terminando por enfraquecer seu perfil normativo e, pois, deontológico. É que, em ambientes democráticos, não há “valor” importante o bastante para que se negue o direito de quem efetivamente o tem. Tentar absorver, por exemplo, os “reclamos do povo”, como pretende o formalismo-valorativo, equivale a aniquilar o Direito democraticamente produzido e a sua almejada autonomia. No final de tudo, o formalismo-valorativo acaba apostando na discricionariedade (forte) judicial, na “consciência do juiz”, pois este passa a ter grande margem e liberdade para decidir, exatamente como pretendia Hart. Numa expressão: Alvaro cai no positivismo hartiano. Evidentemente, há outras tantas críticas que o autor faz ao formalismo-valorativo, inclusive a autores como Daniel Francisco Mitidiero e Humberto Bergman Ávila, mas cabe salientar uma em especial: a de que não precisamos ir “além do sistema” – e isso Alvaro de Oliveira acaba fazendo quando propõe o uso da “equidade” que faria com que o juiz pudesse sair da “lei” para ingressar no “Direito” – para fazer com que o Direito produza justiça. Além de assegurar a autonomia do Direito, compreender essa premissa faz com que possamos compreender adequadamente os efeitos da ruptura paradigmática proporcionada pela Constituição e os novos “sentidos” constitucionais que guiam e legitimam a jurisdição. É Francisco que lembra: “Não há nada na produção democrática do Direito (...) que deva ficar nas mãos da (de resto, insindicável – e bem por isso, antidemocrática) “melhor capacidade de julgamento” de alguém. Afinal de contas, e aqui retorno a “Chico”, “o que está em jogo (...) é o direito fundamental de o cidadão obter boas respostas em Direito”.
Recomendo, por fim, a leitura do livro por se tratar de inteligente, “autêntica e genuína expressão de uma nova jornada do pensamento jurídico no País”, como bem definiu Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira na apresenta