De pronto, cabe dizer que coaduno parcialmente com a preocupação dos professores. Não que eles estejam plenamente corretos, do ponto de vista dogmático, pois em alguns pontos, o tom alarmista não é plenamente correto. Também não dá para concordar com a assertiva de que não necessitamos de um novo CPC.
Avanços apenas “potencialmente consistentes”
É claro que o CPC projetado traz alguns avanços consistentes. Na verdade, “potencialmente” consistentes. Porque de nada adiantará ver o novo com os olhos do velho. Lembrem sempre do que o Superior Tribunal de Justiça fez com o artigo 212 do CPP (ou seja, mesmo que o legislador tenha dito que o juiz somente poderá fazer perguntas complementares, nem juízes, nem STJ e nem o STF deram “bola” para a alteração!). Assim, de que adiantará exigir do juiz que enfrente todos os argumentos deduzidos no processo (o artigo 500 do projeto coloca essa exigência, corretamente, aliás, como requisito essencial da sentença) se ele tiver a liberdade de invocar a “jurisprudência do Supremo” (sic) de que o juiz não está obrigado a enfrentar todas as questões arguidas pelas partes?
É claro que o CPC projetado traz alguns avanços consistentes. Na verdade, “potencialmente” consistentes. Porque de nada adiantará ver o novo com os olhos do velho. Lembrem sempre do que o Superior Tribunal de Justiça fez com o artigo 212 do CPP (ou seja, mesmo que o legislador tenha dito que o juiz somente poderá fazer perguntas complementares, nem juízes, nem STJ e nem o STF deram “bola” para a alteração!). Assim, de que adiantará exigir do juiz que enfrente todos os argumentos deduzidos no processo (o artigo 500 do projeto coloca essa exigência, corretamente, aliás, como requisito essencial da sentença) se ele tiver a liberdade de invocar a “jurisprudência do Supremo” (sic) de que o juiz não está obrigado a enfrentar todas as questões arguidas pelas partes?
Quero dizer: adianta somente mudar a lei? De que adianta tudo isso, se o juiz possui livre convencimento? Aliás, sobre o solipsismo stricto sensu, corolário do paradigma epistemológico da filosofia da consciência,[1] basta ler o artigo 379: “O juiz apreciará livremente a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”
Sendo mais claro, o fato é que não avançaremos enquanto não nos termos conta da necessidade de seguirmos/construirmos uma teoria abrangente do processo para guiar a nossa interpretação dos dispositivos legais (novos ou velhos: veja-se que boa parte deles não precisariam sequer estar explicitados no CPC, como o artigo no qual se veda as “decisões de surpresa”: bastaria aplicar, correta e diretamente, a velha cláusula do contraditório). Sim, precisamos de uma teoria para aplicar o Direito — que é alográfico, e não autográfico, na acertada observação de Eros Grau. E uma teoria que se dedique a refundar o processo, a partir da Constituição (a comissão de notáveis responsável pela redação do anteprojeto de CPC falava na necessidade de se conseguir “sintonia fina” entre o texto infraconstitucional e a Constituição), deve começar respondendo exatamente isso: o que é um processo jurisdicional democrático? Não me parece que o projeto responde a essa pergunta.
É a partir dessa pergunta e da resposta que se dê a ela que saberemos em que pé estamos, em termos de avanços ou retrocessos democráticos. Parece correto dizer, por exemplo, com Dworkin (e aqui indico o livro Levando o Direito a Sério, de Francisco Motta, Livraria do Advogado, 2012), que uma Constituição como a nossa adota uma “teoria moral” específica: a de que o cidadão tem direitos “contra” o Estado. E que, nesse sentido, as cláusulas constitucionais deveriam ser compreendidas não como formulações específicas, mas como restrições, limitações ao Poder Público, sempre favorecendo a preservação dos direitos dos cidadãos. Sendo assim, a nossa pergunta pelo processo jurisdicional democrático começa a ser respondida da seguinte forma: o processo deve ser pautado por direitos e suas disposições têm o sentido de limite, de controle.
O processo (falo aqui do processo jurisdicional, mas essa observação serve também ao processo legislativo) deve servir como mecanismo de controle da produção das decisões judiciais. E por quê? Por pelo menos duas razões: a uma, porque, como cidadão, eu tenho direitos, e, se eu os tenho, eles me devem ser garantidos pelo tribunal, por meio de um processo; a duas, porque, sendo o processo uma questão de democracia, eu devo com ele poder participar da construção das decisões que me atingirão diretamente (de novo: isso serve tanto para o âmbito político como para o jurídico). Somente assim é que farei frente a uma dupla exigência da legitimidade, a mediação entre as autonomias pública e privada. Sou autor e destinatário de um provimento. Por isso é que tenho direito de participar efetivamente do processo. É com essa mirada que deve ser feita uma “olhatura” no projeto que ora a Câmara dos Deputados apresenta à sociedade.
Há de se perceber que o projeto no seu artigo 10 adota desde sua redação original a garantia do contraditório como garantia de influência e não surpresa, que deveria nortear todo o debate processual, o que já é defendido por parcela doutrina pátria há bons anos, em especial por Dierle Nunes (in: O recurso como possibilidade jurídica discursiva do contraditório e ampla defesa. Puc-Minas, 2003, dissertação de mestrado; também O princípio do contraditório, Rev. Síntese de Dir. Civ. e Proc. Civil. v. 5. n. 29. p. 73-85, Mai-Jun/2004; Nelson Nery Junior defende essa questão mesmo antes da reforma legislativa, em seu Princípios do Processo na Constituição Federal, 10.ª ed., SP: RT, 2010, n. 24, p. 207 et seq). Caso a leitura do princípio imposta expressamente informasse todo o texto do projeto na sequência dos seus preceitos projetados, boa parte dos ranços autocráticos e sociais (no sentido negativo) teriam sido mitigados.
Ainda se percebe a adoção confessada, na redação da Câmara, de um perfil comparticipativo de processo (e refiro novamente as posições inteligentes de Dierle Nunes (Processo Jurisdicional democrático: uma análise crítica das reformas processuais. Curitiba: Juruá, 2008), tese essa defendida também pela Escola Mineira de Direito Processual — chamado pelo projeto de processo cooperativo. Esta assunção propagada por muitos poderia promover, caso se fizesse uma análise superficial do projeto, a discordância integral com o pensamento dos referidos juristas, pois estaríamos assumindo verdadeiramente bases democratizantes do modelo processual projetado.
No entanto, ao se fazer uma análise mais detida do CPC projetado, cuja atual redação da Câmara conta com 1.088 artigos, vislumbra-se que as bases fundantes do projeto e muitas de suas técnicas partem do serôdio e desgastado modelo social protagonista, que impõe o evidente receio de mantença da matriz autoritária de processo social, capitaneado pelas correntes instrumentalistas, que acreditam, de modo romântico, nas virtudes soberanas do decisor e em sua capacidade de antever o impacto decisório (político, econômico e social). Esse é o maior equívoco do projeto. Assume uma postura participativa, só que aposta no protagonismo (solipsista). Aliás, é um equívoco que corrói a raiz do projeto. Incrível como os fantasmas de Oskar Von Büllow, Menger, Klein e outros continuam a atazanar os processualistas brasileiros. Os instrumentalistas — mormente eles— continuam a acreditar que a solução do processo está no “protagonismo judicial”.
Aliás, nesse ponto as críticas de Machado e Gandra procedem. Nesses termos, teleologicamente as críticas expendidas pelos juristas vão no alvo. Só que o caminho até elas é que merece uma discussão maior. Ao que li e ouvi das críticas e propostas de Costa Machado, ele propõe uma reforma do atual Código, considerado por ele como “o melhor do mundo”. Preocupa-me não somente essa ode ao velho CPC, mas também a ausência de uma crítica filosófica ao aludido projeto. Aliás, são poucas as críticas — da comunidade jurídica em geral — no que toca ao fundamento filosófico do projeto. E isso é grave (não a crítica de Costa Machado e Gandra Martins; refiro-me a ausência de uma crítica de cariz filosófico da comunidade jurídica em geral).
A juristocracia em marcha
O que está por detrás dessa verdadeira juristocracia proposta no projeto do novo CPC? Vários juristas brasileiros — processualistas com formação filosófica — vêm fazendo pertinentes críticas a alguns pressupostos do projeto desde sua redação original. Mas, registre-se: não apenas ao projeto, mas a uma tradição instrumentalista (socializadora, no sentido negativo) que já consta no atual CPC (e disso Costa Machado, crítico do novo projeto, não se dá conta). Nesse sentido, cito Dierle Nunes, Marcelo Cattoni, Adalberto Hommerding, Francisco Motta, Rafael Tomaz de Oliveira, Georges Abboud, José Miguel Garcia Medina, entre outros).
O que está por detrás dessa verdadeira juristocracia proposta no projeto do novo CPC? Vários juristas brasileiros — processualistas com formação filosófica — vêm fazendo pertinentes críticas a alguns pressupostos do projeto desde sua redação original. Mas, registre-se: não apenas ao projeto, mas a uma tradição instrumentalista (socializadora, no sentido negativo) que já consta no atual CPC (e disso Costa Machado, crítico do novo projeto, não se dá conta). Nesse sentido, cito Dierle Nunes, Marcelo Cattoni, Adalberto Hommerding, Francisco Motta, Rafael Tomaz de Oliveira, Georges Abboud, José Miguel Garcia Medina, entre outros).
Leia na íntegra aqui.
by Lenio Luiz Streck
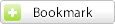












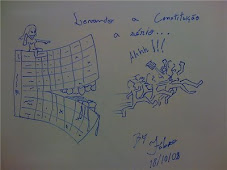


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seu comentário.
Responderei assim que possível.
Grata pela visita!