Luzes da ribalta
“Vidas que se acabam a sorrir
Luzes que se apagam, nada mais
É sonhar em vão tentar aos outros iludir
Se o que se foi pra nós
Não voltará jamais
Para que chorar o que passou
Lamentar perdidas ilusões
Se o ideal que sempre nos acalentou
Renascerá em outros corações”.
“Vidas que se acabam a sorrir
Luzes que se apagam, nada mais
É sonhar em vão tentar aos outros iludir
Se o que se foi pra nós
Não voltará jamais
Para que chorar o que passou
Lamentar perdidas ilusões
Se o ideal que sempre nos acalentou
Renascerá em outros corações”.
Charles Chaplin
(Versos em português: Antônio de Almeida e João de Barro)[1]
(Versos em português: Antônio de Almeida e João de Barro)[1]
Introdução
O título da música lembrada na abertura dessa resenha ilustra o papel do Supremo Tribunal Federal (STF) ao longo de 2012, quando esteve no centro do palco dos acontecimentos nacionais, sob luzes intensas e grande atenção da plateia. Os versos se aplicam aos diversos atores que participaram do enredo da Ação Penal 470. Quando o trem da história mudou de trilho e passou veloz, idealistas e oportunistas foram atropelados em um acidente coletivo e de grandes proporções. Ainda não é possível olhar para o episódio com distanciamento crítico e perspectiva. Mas não se pode falar do ano de 2012 sem uma reflexão sobre o mais longo e complexo julgamento da história do Tribunal.
O título da música lembrada na abertura dessa resenha ilustra o papel do Supremo Tribunal Federal (STF) ao longo de 2012, quando esteve no centro do palco dos acontecimentos nacionais, sob luzes intensas e grande atenção da plateia. Os versos se aplicam aos diversos atores que participaram do enredo da Ação Penal 470. Quando o trem da história mudou de trilho e passou veloz, idealistas e oportunistas foram atropelados em um acidente coletivo e de grandes proporções. Ainda não é possível olhar para o episódio com distanciamento crítico e perspectiva. Mas não se pode falar do ano de 2012 sem uma reflexão sobre o mais longo e complexo julgamento da história do Tribunal.
A presente retrospectiva é dividida em três partes, cada uma delas de certa forma autônoma em relação às demais. Na primeira parte, faz-se uma breve reflexão teórica sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal em 2012, acrescida de um registro fático sobre as mudanças na composição e na presidência da Corte. A segunda parte contém o levantamento, em dez itens, das decisões mais emblemáticas proferidas pelo STF em 2012, cada uma delas acompanhada de um breve comentário. O ano foi bastante atípico, tendo sido assinalado pelo julgamento da ação penal referida acima, também conhecida como processo do “Mensalão”. Por fim, na terceira parte, faz-se uma reflexão sobre o futuro do STF e da jurisdição constitucional, com uma análise envolvendo questões político-institucionais, de agenda e de funcionamento da Corte.
Parte I
Afinal, quem fala em nome do povo?
I. O STF, a soberania popular e a opinião pública
O constitucionalismo democrático foi a ideologia vitoriosa do século XX em boa parte do mundo, derrotando diversos projetos alternativos e autoritários que com ele concorreram. Tal arranjo institucional é produto da fusão de duas ideias que tiveram trajetórias históricas diversas, mas que se conjugaram para produzir o modelo ideal contemporâneo. Democracia significa soberania popular, governo do povo, vontade da maioria. Constitucionalismo, por sua vez, traduz a ideia de poder limitado e respeito aos direitos fundamentais, abrigados, como regra geral, em uma Constituição escrita. Na concepção tradicional, a soberania popular é encarnada pelos agentes públicos eleitos, vale dizer: o presidente da República e os membros do Poder Legislativo. Por outro lado, a proteção da Constituição — isto é, do Estado de direito e dos direitos fundamentais — é atribuída ao Poder Judiciário, em cuja cúpula, no Brasil, se encontra o Supremo Tribunal Federal.
Daí a dualidade, igualmente tradicional, que estabelecia uma distinção rígida entre Política e Direito. Nessa ótica, tribunais eram independentes e preservados da política por mecanismos diversos (autonomia financeira e garantias da magistratura, dentre outros). Por outro lado, não interferiam em questões políticas. Para bem e para mal, esse tempo ficou para trás. Ao longo dos últimos anos, todas as resenhas sobre o STF elaboradas e publicadas aqui nesse mesmo espaço debateram o fenômeno crescente da judicialização da vida, revelador do fato de que inúmeras questões de grande repercussão moral, econômica e social passaram a ter sua instância final decisória no Poder Judiciário e, com frequência, no Supremo Tribunal Federal. Em tom crítico, na academia ou no Parlamento, muitos atores reeditaram o comentário de Carl Schmidt, contrário à ideia de criação de tribunais constitucionais, que falava dos riscos de judicialização da política e de politização da justiça. Ao contrário de Hans Kelsen, que os defendia. Não é o caso de reeditar esse debate, já feito nas resenhas anteriores e em textos doutrinários dos próprios autores da presente resenha[2].
O que cabe destacar aqui, por sua relevância para compreensão da atuação do STF este ano, é que a Corte desempenha, claramente, dois papéis distintos e aparentemente contrapostos. O primeiro papel é apelidado, na teoria constitucional, de contramajoritário: em nome da Constituição, da proteção das regras do jogo democrático e dos direitos fundamentais, cabe a ela a atribuição de declarar a inconstitucionalidade de leis (i.e., de decisões majoritárias tomadas pelo Congresso) e de atos do Poder Executivo (cujo chefe foi eleito pela maioria absoluta dos cidadãos). Vale dizer: agentes públicos não eleitos, como juízes e ministros do STF, podem sobrepor a sua razão à dos tradicionais representantes da política majoritária. Daí o termo contramajoritário. O segundo papel, menos debatido na teoria constitucional[3], foi por nós destacado na resenha do ano passado e referido como representativo[4]. Trata-se, como o nome sugere, do atendimento, pelo Tribunal, de demandas sociais e de anseios políticos que não foram satisfeitos a tempo e a hora pelo Congresso Nacional.
Pois bem: circunstâncias diversas têm colocado ênfase no papel representativo do Supremo Tribunal Federal. Apesar de se tratar de uma questão pouco teorizada, o fato é que um olhar reconstrutivo sobre a jurisprudência e a própria postura da Corte permite concluir que ela tem desenvolvido, de forma crescente, uma nítida percepção de si mesma como representante da soberania popular. Mais precisamente, como representante de decisões soberanas materializadas na Constituição Federal e difundidas por meio de um sentimento constitucional que, venturosamente, se irradiou pela sociedade como um todo. Tal realidade é perceptível na frequência com que as normas da Constituição são invocadas nos mais diversos ambientes. Do debate parlamentar às ações de consumo. Das passeatas gays às respostas da comunidade religiosa, ambas expressamente baseadas na mesma liberdade de expressão.
E se a Constituição ganhou as ruas, era apenas uma questão de tempo para que as ruas terminassem batendo à porta do STF, órgão encarregado de dar a última palavra nas questões constitucionais. Em um país dotado de uma Constituição abrangente, de um Tribunal Constitucional prestigiado e de múltiplos legitimados para provocá-lo, a jurisdição constitucional acaba sendo acionada por todos os lados. Pelo estudante que julga injusto perder sua vaga na universidade para um aluno beneficiário das cotas e pelas mulheres que sofrem o drama existencial de uma gravidez de feto anencefálico. Pelos que querem ter o direito de defender a descriminalização das drogas leves ou negar a ocorrência do holocausto, mas também pelos que consideram inconstitucional esse tipo de discurso.
Não raramente, a jurisdição constitucional é deflagrada pelos próprios agentes políticos, embora estejam entre os principais críticos da judicialização: seja pela minoria parlamentar que considera ter sido privada do devido processo legislativo, seja pelo governador de estado a quem não parece legítimo poder ser convocado para depor em CPI. Todos esperam que o STF faça valer o direito constitucional, que não deve ficar à disposição dos detentores momentâneos do poder. E com isso permitem que o Supremo Tribunal Federal processe esse conjunto de questões políticas na linguagem da Constituição e dos direitos fundamentais. Como há vencedores e vencidos nessas contendas, não é possível agradar a todos nem muito menos aspirar à unanimidade. Quem ganha, geralmente elogia a interpretação adequada da Constituição. Quem perde, lastima a invasão do espaço da política pela jurisdição. Tem sido assim desde sempre, em toda parte, dos Estados Unidos à África do Sul.
A permeabilidade do Judiciário à sociedade não é em si negativa. Pelo contrário. Não é ruim que os juízes, antes de decidirem, olhem pela janela de seus gabinetes e levem em conta a realidade e o sentimento social. Em grande medida, é essa a principal utilidade das audiências públicas que têm sido conduzidas, com maior freqüência, pelo STF[5]. Os magistrados, assim como as pessoas em geral, não são seres desenraizados, imunes ao processo social de formação das opiniões individuais. O que não se poderia aceitar é a conversão do Judiciário em mais um canal da política majoritária, subserviente à opinião pública ou pautado pelas pressões da mídia. Ausente essa relação de subordinação, o alinhamento eventual com a vontade popular dominante é uma circunstância feliz e, em última instância, aumenta o capital político de que a Corte dispõe para poder se impor, de forma contramajoritária, nos momentos em que isso seja necessário.
Este ponto é de extrema relevância: todo poder político, em um ambiente democrático, é exercido em nome do povo e deve contas à sociedade. A autoridade para fazer valer a Constituição, como qualquer autoridade que não repouse na força, depende da confiança dos cidadãos. Mas há sutilezas aqui. Muitas vezes, a decisão correta e justa não é a mais popular. E o populismo judicial é tão ruim quanto qualquer outro. É assim, alternando momentos de ativismo e de autocontenção, que a jurisdição constitucional tem se consolidado em todas as democracias maduras como instrumento de mediação das forças políticas e de proteção dos direitos fundamentais[6].
Esta relação do STF com a imprensa, com a opinião pública (o que quer que ela de fato signifique) e com a voz das ruas esteve particularmente em questão no julgamento da Ação Penal 470. O caso será objeto de comentário específico logo adiante. A verdade é que jamais houve um julgamento sob clamor público tão intenso, assim como sob mobilização tão implacável dos meios de comunicação. E é fora de dúvida que o STF aceitou e apreciou o papel de atender à demanda social pela condenação de certas práticas atávicas, que não devem ser aceitas como traço inerente ao sistema político brasileiro ou à identidade nacional. Desempenhou, assim, o papel representativo de agente da mudança. É inegável, todavia, que a superação de linhas jurisprudenciais anteriores, a dureza das penas e o tom por vezes panfletário de alguns votos surpreenderam boa parte da comunidade jurídica[7].
Do ponto de vista técnico, é impossível não exaltar o desempenho de alguns atores do processo. Em primeiro lugar, deve-se registrar a competência com que a denúncia foi construída e, posteriormente, sustentada. Por igual, na tribuna de defesa, brilharam alguns dos melhores advogados criminais do país. De outra parte, foi impressionante o trabalho do relator, ministro Joaquim Barbosa. Dominando amplamente os aspectos fáticos e jurídicos do processo, tornou imensamente difícil a divergência. Por fim, ao realizar, em alguma medida, um contraponto à posição do relator, o revisor, ministro Enrique Ricardo Lewandowski, enfrentou com bravura e fidalguia a incompreensão geral. Aqui cabe um comentário a mais.
A visibilidade pública, a cobrança da mídia e as paixões da plateia criaram, na sociedade, um ambiente mais próprio à catarse do que à compreensão objetiva dos fatos. Divergências maiores ou menores quanto à prova e suas implicações jurídicas eram tratadas pelo público com a exaltação das torcidas futebolísticas. De lado a lado. Esse misto de incompreensão e intolerância levou a episódios de incivilidade como o que foi vivido pelo ministro Lewandowski em uma seção eleitoral em São Paulo. O mesmo ministro, aliás, que havia recebido inúmeras manifestações de apoio popular por seu papel de destaque na condução das Eleições de 2010 e no julgamento que confirmou a validade da Lei da Ficha Limpa. A lição é inequívoca: o reconhecimento popular pode ser efêmero e mutável, e o bom juiz não pode e não deve agir para obtê-lo.
Em ambos os casos, o ministro Lewandowski teve a coragem moral de votar segundo sua consciência jurídica, sendo coerente com suas reiteradas decisões em matéria penal e eleitoral, respectivamente. Essa mesma coragem e compromisso com a dignidade da própria função foram observados, por exemplo, na questão de ordem suscitada pelo ministro Marco Aurélio a respeito da possibilidade de se aplicar a regra da continuidade delitiva a parte das condenações, bem como na decisão do ministro Joaquim Barbosa, já como presidente da Corte, que negou o pedido de prisão dos condenados antes do trânsito em julgado, remetendo à jurisprudência garantista do STF na matéria. Em nenhum desses exemplos prevaleceu “a voz das ruas”. É possível concordar ou discordar de cada uma dessas posições, pelos mais variados motivos, como é próprio nos regimes democráticos. Mas já não se pode explicar a democracia brasileira sem abrir um capítulo para a contribuição do Supremo Tribunal Federal como instância de reflexão institucional sobre os temas mais importantes para o país.
Cabe agora responder à pergunta que dá título a esta primeira parte da Resenha de 2012: “Afinal, quem fala em nome do povo?”. Em uma democracia, todo poder é representativo, vale dizer, é exercido em nome e no interesse do povo, e deve contas à sociedade. Sendo assim, os três Poderes da República devem falar em nome e no interesse do povo, cada um dentro da sua missão institucional. Interpretar a Constituição e aplicar a lei penal são papéis do Judiciário e, em última instância, do Supremo Tribunal Federal. É o que diz a própria Constituição, expressão máxima da soberania popular. A frase, reproduzida por Ruy Barbosa e banalizada nos dias que correm, de que o Tribunal Constitucional tem o direito de errar por último constitui uma alegoria verdadeira em qualquer Estado constitucional e democrático.
II. As mudanças na composição da Corte
Em 2012, dois ministros afastaram-se do STF por aposentadoria, ambos logo após o exercício da Presidência. O primeiro foi o ministro Cezar Peluso, que deixou uma marca de rigor técnico e, especialmente nas matérias que lhe falavam ao coração, defesa apaixonada de seus pontos de vista. Magistrado de carreira e com ampla experiência na dinâmica dos colegiados, exerceu no STF uma liderança natural[8]. Para a vaga por ele deixada, a presidenta Dilma Roussef indicou o ministro Teori Albino Zavascki, então membro destacado do Superior Tribunal de Justiça. Respeitado como jurista e como magistrado, sua indicação foi saudada pelos mais diferentes setores da sociedade.
Em 2012, dois ministros afastaram-se do STF por aposentadoria, ambos logo após o exercício da Presidência. O primeiro foi o ministro Cezar Peluso, que deixou uma marca de rigor técnico e, especialmente nas matérias que lhe falavam ao coração, defesa apaixonada de seus pontos de vista. Magistrado de carreira e com ampla experiência na dinâmica dos colegiados, exerceu no STF uma liderança natural[8]. Para a vaga por ele deixada, a presidenta Dilma Roussef indicou o ministro Teori Albino Zavascki, então membro destacado do Superior Tribunal de Justiça. Respeitado como jurista e como magistrado, sua indicação foi saudada pelos mais diferentes setores da sociedade.
O segundo a deixar a Corte foi o ministro Carlos Ayres Britto. De formação e estilo singulares, soube exercer uma liderança notável à sua maneira. Demonstrando que é possível conciliar a leveza que lhe é própria com eficiência e energia, conduziu o STF no julgamento mais complexo de sua história, ao menos sob o ponto de vista procedimental. E também em outros casos memoráveis, como aquele em que se afirmou a constitucionalidade da política de cotas. Ao mesmo tempo, deixou para a Corte um legado relevante de racionalização da sua própria atividade, no que se inclui a redução das pautas das Sessões Plenárias a projeções realistas e um começo de reflexão institucional acerca do instituto da repercussão geral, antes que chegue à completa disfuncionalidade. Tudo sem mencionar o fato de ser uma pessoa adorável.
Ao deixar a Corte, passou a Presidência ao ministro Joaquim Barbosa, recém saído da relatoria da Ação Penal 470. É impossível fugir ao registro, tantas vezes repetido, de que se trata do primeiro negro a presidir o Tribunal mais importante do país. De formação técnica sólida, aguerrido na defesa de suas posições e extremamente sério, seu exemplo há de contribuir para que essa característica fenotípica, afinal irrelevante, deixe mesmo de fazer diferença para as próximas gerações de brasileiros.
Parte II
Dez questões emblemáticas decididas em 2012
Dez questões emblemáticas decididas em 2012
I. Critério de seleção
O presente tópico não tem a pretensão de sumariar todas as decisões significativas do ano, que foram muitas, a despeito dos mais de quatro meses em que o STF esteve concentrado na Ação Penal 470. A seleção a seguir enuncia julgados que se destacaram por seu alcance prático ou por sua relevância teórica, servindo para ilustrar as diferentes facetas do protagonismo exercido pela Corte.
O presente tópico não tem a pretensão de sumariar todas as decisões significativas do ano, que foram muitas, a despeito dos mais de quatro meses em que o STF esteve concentrado na Ação Penal 470. A seleção a seguir enuncia julgados que se destacaram por seu alcance prático ou por sua relevância teórica, servindo para ilustrar as diferentes facetas do protagonismo exercido pela Corte.
1. Julgamento criminal do chamado Mensalão (Ação Penal 470/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, aguardando publicação)Um resumo das discussões jurídicas travadas no âmbito da Ação Penal 470 teria, inevitavelmente, dezenas de páginas. Sem prejuízo disso, alguns comentários parecem desde logo possíveis e pertinentes. O primeiro deles é que chega a ser curioso que o caso de maior repercussão na história do STF não tenha envolvido, em seu cerne, a discussão de uma questão constitucional. Ainda assim, temas constitucionais importantes surgiram nas laterais do processo, como a questão da perda automática dos mandatos parlamentares em razão de condenação criminal. Para além dessas questões pontuais, o conjunto da obra tem reflexos constitucionais relevantes. Tal como já foi referido, parece muito nítido que o STF aproveitou a oportunidade para condenar toda uma forma de se fazer política, amplamente praticada no Brasil. Ao proceder assim, o Tribunal acabou transcendendo a discussão puramente penal e tocando em um ponto sensível do arranjo institucional brasileiro.
Quem estava no caminho dessa mudança de percepção foi atropelado, e por isso é compreensível que os condenados se sintam, não sem alguma amargura, como os apanhados da vez, condenados a assumirem sozinhos a conta acumulada de todo um sistema. Por isso mesmo, aliás, é razoável supor que a mudança ficará incompleta caso não se aproveite a ocasião para levar a cabo uma reforma política abrangente, que desça à raiz do problema. Ainda assim, e sem entrar no mérito das condenações individuais, é fato inegável que o Supremo verbalizou e concretizou um desejo social difuso pela extensão do sistema penal aos desvios ocorridos na política e à criminalidade econômica.
É cedo para dizer se isso se refletirá em um endurecimento geral do STF em matéria penal. Outras decisões de 2012 contrariam essa suposta tendência, que não parece dominante na Corte e tampouco representaria avanço. A repressão penal não é algo que deva ser objeto de euforia popular e certamente não deve deixar de ser encarada com a ultima ratio. Para quem queira ver o tema por esse ângulo, o melhor subproduto da Ação Penal 470 não foi o recrudescimento da repressão, e sim a diminuição do caráter seletivo — dura com os marginalizados, mansa com os ricos e poderosos — de que ela ainda se reveste no Brasil.
Leia na íntegra aqui.
by Eduardo Mendonça é professor de Direito Constitucional do UniCeub (Centro Universitário de Brasília), mestre e doutorando em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
by Luís Roberto Barroso é professor titular de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e professor visitante da Universidade de Brasília (UnB). Mestre em Direito pela Yale Law School, Doutor e Livre-Docente pela UERJ, e Visiting Scholar – Harvard Law School (2011).
Fonte: ConJur
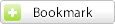












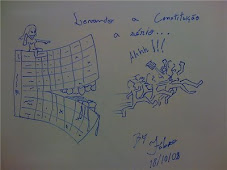


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seu comentário.
Responderei assim que possível.
Grata pela visita!